Marco teórico
NeuronUP nasce em 2012, baseando-se em evidências científicas em cognição e neuropsicologia
resumidas neste documento.
Introdução
O objetivo da reabilitação neuropsicológica é melhorar o desempenho funcional de uma pessoa e compensar os déficits cognitivos resultantes de um dano cerebral, visando reduzir as limitações funcionais, aumentando a habilidade das pessoas de realizar atividades da vida diária (Bernabéu & Roig, 1999). O propósito final é a melhora da qualidade de vida das pessoas (Christensen, 1998; Prigatano, 1984; Sohlberg & Mateer, 1989).
As operações cognitivas estão inter-relacionadas e são interdependentes em nível anatômico quando precisam ocorrer respostas funcionais. Elas envolvem múltiplos tipos e níveis de processamento. Quando uma atividade externa ou interna é realizada, redes neurais de “mundo pequeno” se combinam de modo modular ou através de redes de grande escala. Essas combinações recrutam processos neuropsicológicos específicos para a execução. Desde o reconhecimento visual até os processos de iniciação da conduta (automáticos ou não), o controle de impulsos ou o desenvolvimento de estratégias metacognitivas que planejam um comportamento. Portanto, de um ponto de vista aplicado, faz sentido formular atividades de reabilitação que cubram toda a gama de processos, de forma pontual mas também holística.
A meta da NeuronUP é o desenho dessas atividades, identificando os construtos, operações e funções (Burgess et al., 2006) envolvidos em diferentes atividades humanas, com a finalidade de calibrá-las no processo de reabilitação. Dessa maneira, buscamos fornecer ao terapeuta uma base de dados de atividades úteis para a reabilitação neuropsicológica e para a terapia ocupacional. Esses materiais estão integrados em uma plataforma abrangente e flexível para os profissionais, que poderão elaborar programas de intervenção de forma individualizada.
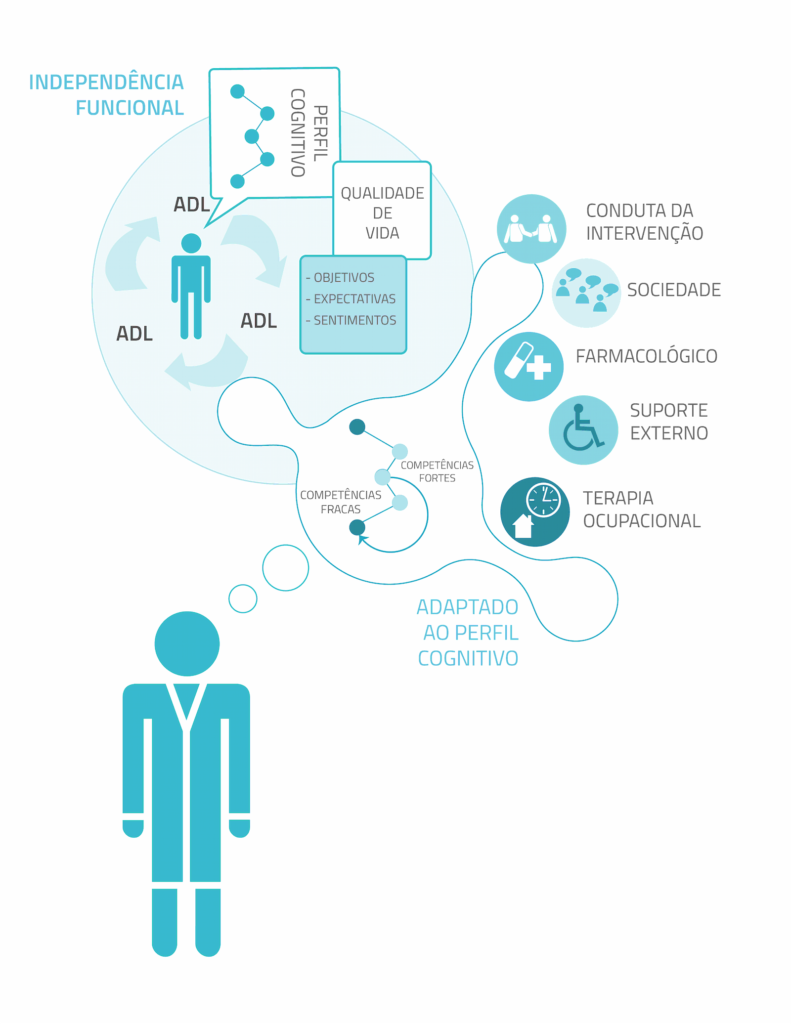
NeuronUP foi criada como resposta a uma série de questões urgentes no campo da reabilitação neuropsicológica, com o intuito de integrar aspectos clínicos e experimentais. Em linha com a necessidade de realizar uma avaliação neuropsicológica mais ecológica (Tirapu, 2007), que permitisse aos profissionais clínicos ter medidas funcionais (representativas e generalizáveis) confiáveis da condição das pessoas que chegavam à consulta, surge uma linha de pensamento coerente no campo da reabilitação. Seu principal objetivo é o uso de conteúdos ecológicos motivacionais e personalizáveis no processo de estimulação e reabilitação neuropsicológicas (Wilson, 1987; 1989).
Validade ecológica
Não deixa de ser irônico que o conceito de validade ecológica tenha surgido da pesquisa experimental. A princípio, esse termo aparece como o grau de relação entre um sinal proximal e uma variável distal em experimentos sobre percepção visual (Brunswick, 1956). O conceito evoluiu ao longo dos anos para referir-se (Kvavilashvili & Ellis, 2004) a um tipo de atividade que atenda aos princípios de representatividade (grau de sobreposição em forma e contexto entre a atividade proposta e a tarefa “real”) e generalização (capacidade que essa atividade tem de predizer a execução em atividades reais que servem de modelo). No campo da reabilitação neuropsicológica, o princípio de generalização também é utilizado em outro sentido: trata-se da propriedade de “transferência” (o treinamento em uma tarefa proporciona um benefício cognitivo em um processo que se transfere para domínios diferentes do originalmente treinado).
Existem três níveis de generalização:
- Nível 1. Nele se preservam os resultados de sessão a sessão, em atividades e materiais que são os mesmos.
- Nível 2. Nele há progresso em tarefas semelhantes à treinada, mas que diferem dela.
- Nível 3. Nele ocorre uma transferência do ganho nas operações e funções treinadas para outras atividades diferentes da vida diária.
Na NeuronUP, projetamos materiais que envolvem atividades e situações da vida diária relacionadas não apenas com os construtos e operações neuropsicológicas básicas, mas também com variáveis de funcionalidade específica (Yantz, Johnson-Greene, Higginson & Emmerson, 2010). As atividades da vida diária exigem operações neuropsicológicas específicas, daí a importância de também treinar processos básicos.
Exaustividade
Para executar uma reabilitação neuropsicológica estratégica, é necessário analisar exaustivamente o perfil cognitivo da pessoa que chega para a reabilitação. Isso nos permite avaliar os pontos fortes e fracos nesse perfil e estabelecer objetivos prioritários junto ao paciente e seu entorno. Seguindo esse princípio, na NeuronUP projetamos uma árvore de classificação de atividades abrangente, que abarca 40 processos neuropsicológicos, divididos em onze funções e áreas de intervenção. O planejamento das atividades de reabilitação e do tempo, dificuldade e intensidade do tratamento deve estar sob controle do terapeuta, que ajusta todos esses parâmetros com base na evolução do paciente (Muñoz-Céspedes & Tirapu, 2004). A NeuronUP adota esse princípio como um de seus pilares na abordagem dos processos de reabilitação. O planejamento das atividades de reabilitação e do tempo está sob o controle do terapeuta” NeuronUP Marco teórico: Conceitos Gerais 5 Incorporando as observações gerais sobre reabilitação neuropsicológica feitas por Muñoz-Céspedes & Tirapu (2001), na NeuronUP consideramos prioritário:
- A calibração da complexidade das atividades.
- A divisão das tarefas em seus diferentes parâmetros.
- A redação de instruções claras e simples que ajudem a dar estrutura à tarefa e à sua execução. Caso a linguagem utilizada não seja adequada para o nosso paciente, pode ser individualizada.
- A acessibilidade a recursos como parte de um tratamento menos custoso em termos de tempo, dinheiro e deslocamento.
Benefícios da reabilitação via computador
Por que usar uma plataforma web de reabilitação? Embora seja incorreto pensar na NeuronUP como algo totalmente baseado em computador (já que há atividades imprimíveis), acreditamos que existem benefícios associados a esse tipo de formato. NeuronUP é uma ferramenta que auxilia o terapeuta, não um substituto. Uma aplicação incorreta por parte do terapeuta (pouca supervisão, mau ajuste do planejamento ao perfil do paciente, formato incorreto, uso exclusivo da plataforma para reabilitação etc.) terá um resultado ruim, independentemente do recurso utilizado. Os principais benefícios do uso do computador na reabilitação são (Ginarte-Aria, 2002; Lynch, 2002; Roig & Sánchez-Carrión, 2005):
• Permitir o controle preciso de algumas variáveis, como por exemplo o tempo de exposição a um estímulo e o tempo de reação permitido. Isso possibilita um maior controle da evolução do paciente.
• A coleta de dados é mais consistente e eficaz, o que permite uma análise mais fluida dessas informações. Esse é um componente importante no design de planos estratégicos de reabilitação neuropsicológica.
• Os estímulos apresentados são mais atrativos, o que aumenta a motivação dos indivíduos. A personalização das atividades, tanto na gradação quanto na forma, é imprescindível para a reabilitação estratégica.
• Integração de materiais multimídia, possibilitando terapias em multiformato.
• Fornece um feedback adequado e preciso, permitindo a construção de um sistema interativo. Esse aspecto também está envolvido na consciência de déficits.
• Permite a conexão de periféricos para problemas visuais ou motores, entre outros.
• Possibilita o treinamento em um ambiente não institucionalizado, distanciando a reabilitação de um contexto hospitalar.
• Permite flexibilidade, pois os materiais baseados em computador podem ser programados em uma interface simples. Com a NeuronUP, você pode modificar parâmetros das atividades, como o tipo de estímulos utilizados, o nível de dificuldade, o tempo de exposição aos exercícios etc. Tudo isso se baseando nas necessidades e pontos fortes específicos de cada paciente.
• Os programas de computador têm (ou devem ter) uma relação custo-benefício razoável: economizar tempo do terapeuta (recursos do centro) e evitar o gasto de recursos que o paciente teria (intervenção em casa).
“Considerar somente a esfera cognitiva é uma abordagem insuficiente.”
Quais são os principais problemas práticos associados à reabilitação com computador e como tentamos corrigi-los?
- Propomos um SISTEMA flexível, no qual o terapeuta pode modificar os parâmetros da atividade e acessar as atividades apropriadas para cada paciente. Dessa forma, evitamos que as atividades sejam aplicadas de maneira rígida e inadequada (Ginarte Arias, 2002).
- Adaptamos os conteúdos ao momento evolutivo da pessoa que realiza a reabilitação (Tam & Man, 2004). O sistema especialista possibilita a seleção de atividades ajustadas à linguagem, ao nível de escolaridade, ao tipo de deterioração cognitiva e à lesão etc.
- Conceitualizando a tecnologia como uma ferramenta, não como um fim em si mesmo. O uso de plataformas e programas de reabilitação não substitui o contato, apoio, esforço e supervisão do terapeuta.
- Promovendo uma ferramenta que esteja em constante atualização, adaptando rapidamente as contribuições do cliente (Sánchez Carrión, Gómez Pulido, García Molina, Rodríguez Rajo & Roig Rovira, 2011). Considerar uma intervenção que somente leve em conta a esfera cognitiva, sem reconhecer os fatores psicossociais, emocionais e comportamentais associados, é uma abordagem insuficiente para a reabilitação neuropsicológica (Salas, Báez, Garreaud, & Daccarett, 2007).
As tecnologias de suporte para a cognição vêm sendo utilizadas para o treinamento de uma ampla variedade de atividades, desde a comunicação verbal até a participação social (Gillespie, Best & O´Neill, 2012). Seu uso evoluiu de jogos e atividades de primeira geração para a tecnologia de quarta geração, em que a intervenção em grupo e a reabilitação de realidades funcionais e ecológicas fazem parte de um modelo holístico. Para Lynch (2002), essas novas atividades devem ser usadas para reabilitar tarefas associadas às atividades da vida diária.
As tecnologias para reabilitação baseadas em computadores podem ser usadas em um espectro populacional amplo. Cole (1999) enfatizou a necessidade de interfaces amigáveis e altamente personalizáveis, e recomendou seu uso se cumprissem essas propriedades (Cole, Ziegmann, Wu, Yonker, Gustafson & Cirwithen, 2000). Devido a essa heterogeneidade, os materiais e as orientações usadas em tecnologias de reabilitação devem ser adaptados em termos de complexidade: número e dificuldade de “pontos de tomada de decisão”, sequências de informação etc. (LoPresti, Mihailidis & Kirsch, 2004). Os usuários devem ser incluídos no processo de design das atividades, de acordo com o conceito de “design sensível à inclusão do usuário” proposto por Newell & Gregor (2000). Por fim, essa interface deveria fornecer um arquivo de acesso simplificado aos dados do paciente, comandos de “salvar” e “imprimir” para esses dados, além da possibilidade de incluí-los em grandes quantidades de informação.
Evidências
Peretz, Korczyn, Shatil, Aharonson, Birnboim & Giladi (2011) compararam um grupo que recebia um treinamento personalizado com materiais baseados em computador a um grupo que era treinado com materiais baseados em computador tradicionais. A melhora na condição de personalização foi significativa em todos os domínios cognitivos, enquanto o grupo de treinamento com atividades clássicas de computador só melhorou em quatro domínios.
Para revisões mais extensas, o leitor pode consultar os seguintes estudos: Gillespie et al. (2012); Kueider, Parisi, Gross & Rebok (2012); Cicerone et al. (2011); Stahmer, Schreibman & Cunningham (2010); Faucounau, Wu, Boulay, De Rotrou, Rigaud (2009); Lange, Flynn & Rizzo (2009); Tang & Posner (2009); LoPresti et al. (2004), Kapur, Glisky & Wilson (2004), Bergman (2002) e Lynch (2002).
“Pesquisas futuras sobre intervenções baseadas em computador devem controlar os parâmetros adequados para melhorar a validade.”
Em relação à reabilitação com materiais baseados em computador para as funções neuropsicológicas específicas, já foi realizada uma grande quantidade de pesquisas até a presente data. Fizemos uma seleção de alguns textos que mostram a eficácia da reabilitação com esse tipo de ferramentas e materiais em diferentes funções: atenção (Borghesse, Bottini & Sedda, 2013; Jiang et al., 2011; Flavia, Stampatori, Zanotti, Parrinello & Capra, 2010; Barker-Collo et al., 2009; Dye, Green & Bavelier, 2009; Green & Bavelier, 2003; Cho et al., 2002; Grealy, Johnson & Rushton, 1999; Gray, Robertson, Pentland, Anderson, 1992; Sturm & Wilkes, 1991; Niemann, Ruff & Baser, 1990; Sohlberg & Mateer, 1987), memória (Caglio et al., 2012, 2009; das Nair & Lincoln, 2012; McDonald, Haslam, Yates, Gurr, Leeder & Sayers, 2011; Bergquist et al., 2009; Gillette & DePompei,2008; Wilson, Emslie, Quirk, Evans & Watson, 2005; Ehlhardt, Sohlberg, Glang & Albin, 2005; Glisky, Schacter & Tulving, 2004; Kapur, Glisky & Wilson, 2004; Tam & Man, 2004; Webster et al., 2001; Wilson, Emslie, Quirk & Evans, 2001; van der Broek, Downes, Johnson, Dayus & Hilton, 2000), habilidades visuoespaciais (Boot, Kramer, Simons, Fabiani & Gratton, 2008), linguagem (Allen, Mehta, McClure & Teasell, 2012; Fink, Brecher, Sobel & Schwartz, 2010; Lee, Fowler, Rodney, Cherney & Small, 2009; Kirsch et al., 2004b; Wertz & Katz, 2004; Katz & Wertz, 1997), cognição social (Grynszpan et al., 2010; Bernard-Opitz, Srira & Nakhoda-Sapuan, 2001) e funções executivas (Nouchi et al., 2013; Johansson & Tornmalm 2012; López Martinez et al., 2011; O´Neill, Moran & Gillespie, 2010; Westerberg et al., 2007; Ehlhardt et al., 2005; Kirsch et al., 2004a; Gorman, Dayle, Hood & Rumrell, 2003).
No que diz respeito a perfis específicos de deterioração, os materiais e ferramentas baseadas em computador têm sido aplicados com sucesso em diversas condições: TCE (Cernich et al., 2010; Gentry, Wallace, Kvarfordt & Lynch, 2008; Thornton & Carmody, 2008; Michel & Mateer, 2006), AVC (Cha & Kim, 2013; Lauterbach, Foreman & Engsberg, 2013; Akinwuntan, Wachtel & Rosen, 2012; Cameirão, Bermúdez I Badia, Duarte Oller & Verschure, 2009; Michel & Mateer, 2006; Deutsch, Merians, Adamovich, Poizner & Burdea, 2004; Teasel et al., 2003; Wood et al., 2004), demência (Crete-Nishihata et al., 2012; Mihailidis, Fernie & Barbenel, 2010; Cipriani, Bianchetti & Trabucchi, 2006; Cohene, Baecker & Marziali, 2005; Alm et al., 2004; Hofman et al., 2003; Zanetti et al., 2000), esclerose múltipla (Flavia et al., 2010; Shatil, Metzer, Horvitz & Miller, 2010; Vogt et al., 2009; Gentry, 2008), transtornos do espectro do autismo (Sitdhisanguan, Chotikakamthorn, Dechaboon & Out, 2012; Wainer & Ingersoll, 2011; Tanaka et al., 2010; Beaumont & Sofronoff, 2008; Sansosti & Powell-Smith, 2008; Stromer, Kimball, Kinney & Taylor, 2006; Goldsmith & LeBlanc, 2004; Silver & Oakes, 2001; Werry, Dautenhahn, Ogden & Harwin, 2001; Lane & Mistrett, 1996), TDAH (Steiner, Sheldrick, Gotthelf & Perrin, 2011; Rabiner, Murray, Skinner & Malone, 2010; Shalev, Tsal & Mevorach, 2007; Mautone, DuPaul & Jitendra, 2005; Shaw & Lewis, 2005), dificuldades de aprendizagem (Nisha & Kumar, 2013; Seo & Bryant, 2009 –com recomendações sobre eficácia–; Kim, Vaughn, Klingner & Woodruff, 2006; Hasselbring & Bausch, 2005; Lee & Vail, 2005; Maccini, Gagnon & Hughes, 2002; MacArthur, Ferretti, Okolo & Cavalier, 2001; Hall, Hughes & Filbert, 2000), deficiência intelectual (Cihak, Kessler & Alberto, 2008; Mechling & Ortega-Hurndon, 2007; Ayres, Langone, Boon & Norman, 2006; Ortega-Tudela & Gómez-Ariza, 2006; Standen & Brown, 2005; Furniss et al., 1999), esquizofrenia (Sablier et al., 2011; Suslow, Schonauer & Arolt, 2008 –com recomendações para pesquisas futuras–; Medalia, Aluma, Tryon & Merriam, 1998; Hermanutz & Gestrich, 1991) ou fobia social (Neubauer, von Auer, Murray, Petermann Helbig-Lang & Gerlach, 2013; Schmidt, Richey, Buckner & Timpano, 2009). As intervenções com materiais computadorizados também podem ser usadas para a promoção de um envelhecimento saudável em populações sem deterioração (Kueider, Parisi, Gross & Rebok, 2012; Cassavaugh & Kramer, 2009; Basak, Boot, Voss & Kramer, 2008; Flnkel & Yesavage, 2007; Rebok, Carlson & Langbaum, 2007; Jobe et al., 2001).
Apesar do exposto, ainda restam questões clínicas e experimentais a serem resolvidas. O controle adequado dos fatores que afetam os resultados de ensaios clínicos que utilizam esse tipo de ferramentas e materiais pode ser melhorado. Santaguida, Oremus, Walker, Wishart, Siegel & Raina (2012) identificaram uma série de deficiências metodológicas em revisões de estudos sobre reabilitação neuropsicológica em pacientes com AVC, que podem ser estendidas ao estudo de materiais informáticos para essa finalidade. Os estudos primários apresentavam problemas na aleatorização e na seleção da amostra populacional, no desenho de estudos cegos e nos critérios de seleção e exclusão de amostra. Além disso, há uma série de problemas que afetam variáveis estranhas, como a comparação da linha de base com o desempenho posterior, eventos e efeitos adversos e a contaminação de amostras. O controle de efeitos adicionais à cognição, devido a tratamentos coadjuvantes ao analisado, é um ponto importante que sequer é mencionado na literatura existente.
A racionalização do tipo e do número de medidas de mudança, assim como dos instrumentos utilizados, é fundamental e não é realizada adequadamente nos estudos. Também há uma deficiência no fato de que os estudos publicados não explicam detalhadamente variáveis como intensidade, desenho, tipo de materiais e atividades dos tratamentos, tanto do tratamento-alvo quanto dos tratamentos coadjuvantes.
Jack, Seelye & Jurick (2013) já abordaram a generalização de tarefas treinadas em relação a tarefas não treinadas. De acordo com seus resultados, “poucos estudos demonstraram a melhoria em tarefas não treinadas dentro do domínio cognitivo treinado, domínios cognitivos não treinados ou habilidades da vida diária. Os efeitos da reabilitação cognitiva deveriam ser generalizados a tarefas não treinadas, funcionais e duradouras”. Os metanálises recomendam desenhos metodológicos mais robustos. Para uma boa revisão dos princípios que deveriam ser levados em conta na pesquisa aplicada à aprendizagem com tarefas informatizadas, recomendamos Cook (2012, 2005). Van Heugten, Gregório & Wade (2012) recomendam o desenvolvimento de uma lista internacional que inclua a descrição detalhada de intervenções não farmacológicas complexas.
Em suma, as intervenções informatizadas podem facilitar a melhoria de forma eficiente em muitas atividades, porém é necessária pesquisa adicional que controle os parâmetros relevantes nos estudos de reabilitação com materiais baseados em computador.

BASES PARA A REABILITAÇÃO
Modelo hierárquico do Sistema Nervoso Central (SNC)
O SNC pode ser dividido em três eixos hierárquicos com especificidade funcional.
Eixo anterior-posterior ou rostral-caudal:
no qual as zonas anteriores ou frontais lidariam com um tipo de conteúdo abstrato e com um tipo de informação mais complexa, possivelmente envolvida na monitorização e integração de conteúdos e processos. Nesse sentido, podemos observar processos de controle em funções cognitivas e emocionais. Em relação às emocionais, a ínsula, as regiões posteriores, o córtex cingulado posterior, a ínsula posterior e o córtex cingulado medial sustentam a funcionalidade de processos simples de primeira ordem, de tipo sensorial, enquanto as zonas anteriores contêm representações mais complexas dos conteúdos emocionais. Nos processos atencionais, podemos observar como as zonas mais frontais monitorizam e guiam a busca com base em conteúdos complexos (por exemplo, metas), enquanto as zonas corticais mais posteriores (por exemplo, o parietal) guiam o processo com base nos estímulos e não em um processo reflexivo. O conteúdo cognitivo das zonas anteriores também é mais complexo. As zonas anteriores frontais, por exemplo, controlam processos conscientes e reflexivos, monitorizando as ações que realizamos e usando informações de tipo modal e específico que chegam de diferentes partes do cérebro, direta ou indiretamente (comunicação entre regiões frontais ou áreas de associação).
Em conjunto, a complexidade das representações contidas nas zonas mais rostrais é maior, sendo utilizada para elaborar esquemas abstratos, funções cognitivas superiores e comandos conscientes e volitivos de ação. Além disso, as zonas rostrais nesse plano são capazes de integrar diferentes informações de outras partes mais posteriores do cérebro, como, por exemplo, sinais simples sobre localizações e luminância.
Eixo córtico-límbico ou dorsal-ventral
em que as zonas dorsais se encarregariam de um processamento de tipo reflexivo ou cognitivo, em contraste com as zonas ventriciais, encarregadas de um processamento guiado por estímulos ou emocional. Entre as estruturas mais dorsais está o córtex cingulado anterior ou ACC, especialmente o rostral. A amígdala é um núcleo de processamento emocional autônomo. É lógico pensar que esses processos sejam mais automáticos, por exemplo, no que se refere a estratégias baseadas na situação; tal como ocorre com a implicação do ACC rostral ao modular a amígdala na resolução de conflitos. Por outro lado, se pensarmos no reappraisal, que é um controle cognitivo dos processos emocionais, é uma estratégia reflexiva baseada em si mesmo.
Eixo medial-lateral
As zonas anteriores ou frontais controlam processos conscientes e reflexivos, o monitoramento das ações e o uso de informações procedentes de diferentes zonas do cérebro.
nesse eixo, as estruturas mediais se encarregariam de um processamento centrado no indivíduo e em seus sinais internos, enquanto as zonas mais laterais se encarregam de questões mais visuais e espaciais, representando características do mundo externo. Nesse sentido, podemos entender que as localizações mediais estão mais próximas dos centros emocionais e, devido à organização citoarquitetônica, possuem um maior número de conexões. Na verdade, as estruturas emocionais são responsáveis por fornecer informação ao sujeito sobre seus estados internos, e seria lógico pensar que, à medida que nos afastamos citoarquitetonicamente dessas áreas, a relação funcional diminui. Em qualquer caso, a dissociação entre as áreas mediais como referentes ao indivíduo e as laterais como relativas a aspectos do mundo externo tem pelo menos dois fundamentos. Primeiro, o fato de as estruturas mais profundas terem conexões com o sistema sensorial autônomo e, portanto, com o arousal, tornando mais lógico pensar que elas influenciem eventos guiados por dados. Enquanto as estruturas menos profundas modulam essas, de algum modo, com processos de tipo reflexivo.
Plasticidade
O cérebro adulto humano gera neurônios novos continuamente.
A plasticidade cerebral define-se de forma geral como a capacidade do cérebro de reorganizar seus padrões de conectividade neuronal, reajustando sua funcionalidade. A plasticidade neuronal está presente no envelhecimento normal, no dano cerebral adquirido e até mesmo em demências (apesar da especificidade existente quando estruturas hipocampais são afetadas, reduzindo gradativamente a taxa de neurogênese em demências do tipo Alzheimer). A reabilitação neuropsicológica aproveita esse fenômeno para gerar novas sinapses, mesmo que o efeito seja limitado em algumas ocasiões. Atualmente não há consenso estabelecido sobre o efeito produzido ao aproveitar esse fenômeno, pois depende de vários fatores: tipo de deterioração, idade, processo de recuperação, reserva cognitiva – e conectividade associada –, fatores genéticos etc. O certo é que a aprendizagem de habilidades após um dano cerebral e outras patologias se baseia em redes neurais “de reserva” e em novas redes que se formam. As bases fisiológicas para a neurorreabilitação são as seguintes (Dobkin, 2007):
- Mudanças nos potenciais neuronais (em parâmetros de movimento)
- Variabilidade de disparo (“firing”) neuronal através de processos de prática e recompensa
- Fortalecimento hebbiano das conectividades neuronais, com remapeamento das representações
- Recrutamento de atividade remota ou correlacionada dentro de uma rede
- Outros tipos de autorregulação e processos associados à aprendizagem.
Novos neurônios são gerados continuamente no cérebro humano (Ming & Song, 2011; Boyke, Driemeyer, Gaser, Büchel & May, 2008; Ge, Sailor, Ming & Song, 2008; Fuchs & Gould, 2000; Gross, 2000; Eriksson, Perfilieva, Björk-Eriksson, Alborn, Nordborg et al., 1998). Desse ponto de vista, a plasticidade pode surgir a partir da ação de dois mecanismos potenciais (Ming & Song, 2011): renovação neuronal e/ou mudanças na potencialidade dos neurônios. As frequências desses dois processos são significativamente mais lentas no cérebro adulto que no cérebro jovem.
Mas, como um número pequeno de neurônios pode afetar o funcionamento global do cérebro? Ming & Song (2011) propõem que a plasticidade atua através dos novos neurônios de duas maneiras diferentes: como novas unidades de armazenamento e codificação e por meio da modificação dos limiares de disparo dos neurônios existentes (e, portanto, da sincronização e oscilações presentes). Os princípios que definem esse processo seriam:
- Novos neurônios no cérebro adulto que são ativados por “inputs” específicos.
- Novos neurônios no cérebro adulto que inibem “outputs” de redes locais.
- Novos neurônios no cérebro adulto que modificam circuitos locais através da ativação seletiva de vias modulatórias.
- . Efeitos em diversos subtipos de interneurônios locais.
“A plasticidade implica a adaptação do cérebro às tarefas e à idade. Fatores ambientais influenciam a plasticidade.”
A plasticidade pode melhorar os processos de aprendizagem em três níveis (Berlucchi, 2011): um nível neuronal, um nível sináptico e um nível de rede (mudanças na conectividade funcional). Esses níveis não são mutuamente excludentes. A remodelação dos padrões de atividade neuronal em curto e longo prazo, incluindo a formação, eliminação e alteração nas frequências e limiares de disparo, bem como o surgimento de novos axônios, são as principais formas de alcançar a organização neuronal por meio da experiência e da maturação (Álvarez & Sabatini, 2007). Os fatores neurotróficos também são modificados pela experiência através da regulação epigenética (Berlucchi, 2011).
A plasticidade é um fenômeno natural que implica a adaptação do cérebro a tarefas específicas ao longo da vida. Quanto mais velho o cérebro, mais mecanismos de compensação são necessários para obter um desempenho melhor ou similar. Em tarefas de memória de trabalho, a atividade neuronal de pessoas idosas se distribui, apresentando uma atividade mais difusa. Isso poderia ser uma resposta de compensação natural (Dennis & Cabeza, 2011). Apesar disso, a plasticidade como processo de maturação e a plasticidade que ocorre após um dano cerebral não são iguais, e as diferenças entre esses processos devem ser esclarecidas antes de tirar conclusões.
Como mencionado, existem vários fatores ambientais que podem afetar a plasticidade. Alguns estudos descobrem que o estresse ou as síndromes de deficiência de insulina (um perfil que em alguns casos poderia estar relacionado à doença de Alzheimer) reduzem a taxa de neuroplasticidade no cérebro adulto. No extremo oposto, existem atividades que favorecem a neuroplasticidade. O exercício físico estimula a geração de novas células (van Praag et al., 1996; citado em Ming & Song, 2011). A aprendizagem modula a neurogênese adulta de forma específica (Zhao, Deng & Gage, 2008). Por exemplo, alguns tipos de neurogênese adulta só são influenciados por tarefas de aprendizagem que dependem do hipocampo. Entre outras (Deng et al., 2010) estão:
- Tarefas de aprendizagem espacial e retenção na memória espacial de longo prazo.
- Discriminação de padrões espaciais.
- Condicionamento de traços de memória e condicionamentos aversivos contextuais.
- Reorganização da memória por meio de substratos neuronais extrahipocampais.
Intervenção: como reabilitar

A estratégia terapêutica deve ser selecionada com base na gravidade dos déficits apresentados (pontos fracos e fortes), no tempo transcorrido após a lesão e na tipologia que gera o déficit cognitivo. De modo geral, podemos estabelecer as seguintes estratégias (Lubrini, Periáñez & Rios-Lago, 2009):
- Restabelecimento de padrões cognitivos e de comportamento previamente aprendidos.
- Estabelecimento de novos padrões de atividade cognitiva por meio de estratégias de substituição.
- Introdução de novos padrões de atividade por meio de estratégias de substituição.
A reabilitação ajuda os pacientes e suas famílias a se adaptarem à nova condição, de modo a melhorar o nível geral de funcionamento das pessoas.
Zangwill (1947) distingue a compensação (uma reorganização do comportamento direcionada à minimização de uma deficiência específica) da substituição (a realização de uma tarefa através de novos métodos de resolução, diferentes dos aprendidos originalmente por um cérebro intacto para essa tarefa).
A evolução da recuperação funcional que segue uma lesão cerebral (se possível) pode ser atribuída a cinco princípios básicos (Edelman & Gally, 2001):
- O desaparecimento espontâneo dos efeitos agudos específicos dessa lesão.
- A reversão da diasquise, isto é, a reversão da depressão temporária na atividade das partes preservadas do cérebro, que ocorre devido à desconexão com as partes lesionadas.
- O princípio da função vicária (assunção de funções em larga escala –redes específicas e distantes–).
- O princípio da redundância (assunção de funções por redes do mesmo sistema de processamento que permanecem intactas).
- O princípio da degeneração (assunção de uma função perdida por parte de vários sistemas).

A essência da terapia é uma prática progressiva de subtarefas e metas intencionais completas (funcionais) usando pistas físicas e cognitivas, com feedback sobre os resultados e a execução (Dobkin, 2005). No entanto, devemos levar em conta a(s) estratégia(s) envolvida(s) na terapia, pois o potencial de recuperação funcional de um sistema neuronal danificado pode ser suprimido se o planejamento for inadequado (Belucchi, 2011).
Na NeuronUP também acreditamos que a reabilitação neuropsicológica deve ser guiada pelos seguintes princípios:
- Basear-se em modelos teóricos sólidos e em evidência científica.
- Ter uma perspectiva multidisciplinar.
- Ser estruturada, com uma ordem de prioridades e estratégica.
- Permitir o ajuste de tempo e intensidade dos tratamentos de acordo com as características e evolução dos pacientes.
- Considerar a autonomia e a qualidade de vida como objetivos principais.
- Concentrar-se nos pontos fortes, com o objetivo de melhorar os pontos fracos.
- Compreender as esferas cognitiva, comportamental, emocional, social e laboral.
- Enfatizar a motivação, identificando os reforços significativos para o paciente.
- Incluir tarefas que auxiliem a generalização.
- Utilizar as ferramentas de reabilitação como um método, não como uma finalidade.

FUNÇÕES COGNITIVAS
Orientação
A orientação requer uma integração da informação procedente de diferentes redes cerebrais.
A orientação é uma função cognitiva cujo objetivo é situar o próprio sujeito em um parâmetro específico de seu entorno. Por isso, requer, além de funções de atenção e memória (episódica e semântica) e memória de trabalho, informações relativas à localização espacial. Define-se orientação como a consciência de si mesmo em relação às características que o rodeiam: espaço, tempo e história pessoal. Exige a integração entre atenção, percepção e memória (Lezak, 2004). Um déficit na percepção ou na memória pode gerar déficits leves na orientação, enquanto uma alteração nos subsistemas de atenção causa um déficit grave de orientação em todos os níveis. A dependência de outros sistemas torna a orientação especialmente vulnerável (sua presença não descarta, no entanto, a afetação cognitiva, pois também está influenciada pela rotina).
Existem três tipos de orientação:
Orientação temporal: São processos de atualização cujo resultado informa sobre questões relativas a dia, hora, mês, ano, momento de realizar condutas, datas festivas, estações etc. Depende em grande parte da atenção sustentada e da memória semântica, enquanto a atenção seletiva captaria as mudanças no ambiente que determinam um processo ordenado de tempo (quando se está realizando uma ação –jantar, acordar–, o que significa –temporalmente– estar nevando etc.). A orientação temporal difere da estimativa temporal, pois esse processo metacognitivo implica: – ou uma estimativa do tempo transcorrido (vigilância, tomada de decisões, percepção), – ou uma estimativa da quantidade de tempo que uma atividade pode ocupar (e que depende do planejamento e da memória prospectiva).
Para atualizar processos, é preciso recuperar informações armazenadas recentes e antigas sobre lugar, hora e identidade.
Orientação espacial: São processos de atualização nos quais o sujeito é capaz de se localizar em uma continuidade espacial (de onde vem, onde está em um momento específico, para onde vai). A orientação espacial depende primeiramente da orientação visual atencional, da atenção sustentada, da atenção seletiva e da memória.
Orientação pessoal: É o processo mais complexo dos três, pois geralmente requer informação multiformato que implica a identidade pessoal e um mecanismo de controle que verifica a veracidade da informação (em caso de falha, ocorreriam confabulações). Alguns autores se referem a esse tipo de orientação como consciência autonoética (Tulving, 2002). A consciência autonoética implica a atualização de conteúdos da memória episódica autobiográfica, colocados em relação ao momento atual e com sentido de continuidade do eu. Para acessar esse tipo de informação, antes de tudo, são necessárias pistas de codificação e, depois, a memória de trabalho atualiza esse conteúdo, relacionando-o com o tempo e com o momento atual, gerando a sensação de continuidade do eu.
Dependência dos sistemas funcionais
A orientação é a função mais vulnerável em síndromes de desconexão, pois se baseia em extensas redes do cérebro.
Orientar-se implica recordar. Portanto, trata-se de um sistema cujas marcas (“traces”) se distribuem pelo córtex em todo o sistema nervoso central, mas com relevância especial em relação ao hipocampo. A importância de algumas estruturas do hipocampo difere, dependendo do tipo de orientação ao qual nos referimos, mas é uma função particularmente ancorada nessa estrutura. De fato, as atividades de orientação costumam ser usadas principalmente em pessoas com demências associadas a essa estrutura. Isso se deve a várias razões.
Em primeiro lugar, o tipo de informação exigido costuma mudar bastante (especialmente a temporal) e depende de marcas de memória muito recentes. Se o hipocampo não pôde formar algoritmos que vinculem a memória a traços corticais por causa de uma lesão, esses traços neuronais desaparecem. Em segundo lugar, a atualização de conteúdos depende fortemente da memória de trabalho. Embora seja verdade que a memória de trabalho é um processo executivo amplamente distribuído no sistema nervoso central (ainda que com predominância funcional do córtex pré-frontal dorsolateral), nas demências geralmente há afetação geral dos tratos de substância branca, que comprometem a integridade da rede de trabalho (oposta à rede em repouso). Essa afetação produz uma desconexão entre os sistemas responsáveis por coletar e atualizar informações (córtex pré-frontal, feixes longitudinais), as marcas de memória (substância cinzenta) e os mecanismos que geram algoritmos para facilitar o acesso a essas marcas (hipocampo).
Essa desconexão é progressiva, e a deterioração na orientação ocorre em paralelo. Assim, os dados mais recentes e mutáveis (dia, hora, lugar novo, nascimentos recentes na família, nomes de pessoas conhecidas há pouco tempo, idade…) são os primeiros a se perder, enquanto outros são mais resistentes à deterioração, pois as pistas neurais já existem.
Modelos usados para elaborar materiais
A reabilitação da orientação requer aumentar o estado de alerta, o ensino de estratégias de codificação e a recuperação de ajudas externas.
Para elaboração dos exercícios de orientação, baseamo-nos principalmente em dois modelos:
- a Terapia Orientada à Realidade e Reminiscência – flexível e apoiada em ajudas externas –,
- e o Modelo de Reabilitação de Orientação de Ben Yishay (Ben Yishay et al., 1987) baseado no modelo atencional de Posner e Petersen (1990).
A Terapia de Orientação à Realidade e Reminiscência tem como finalidade a reorientação témporo-espacial e o fortalecimento das bases de identidade pessoal do paciente, por meio da apresentação repetitiva de informações de orientação e do uso de diversas ajudas externas (Arroyo-Anlló, Poveda Díaz-Marta e Chamorro Sánchez, 2012). Esses materiais são elaborados com base em dois fatores: um individual, com atividades diárias treinadas com o paciente, e outro com atividades que podem ser realizadas em grupo por meio de marcadores interativos. Especificamente, as intervenções com reminiscência trabalham com grupos de idade semelhante e fomentam a narrativa compartilhada de realidades autobiográficas, promovendo a colaboração grupal para construir significados da biografia (pessoal e compartilhada) das pessoas do grupo. Para isso, é necessário integrar conteúdos como fotos, vídeos, músicas, palavras. A NeuronUP busca fornecer interfaces para compartilhar esses conteúdos em um ambiente amigável e fácil de manusear tanto pelos terapeutas quanto pelos pacientes.
O Modelo de Reabilitação de Orientação de Ben Yishay tem um caráter atencional mais marcado e uma estrutura teórica maior, em concordância com os pressupostos gerais que manejamos na NeuronUP, especialmente a ideia de hierarquia funcional. Nessa hierarquia funcional, as atividades projetadas para a orientação surgem do primeiro nível hierárquico dos módulos de Ben Yishay, focado em aumentar o nível de alerta
Além disso, alguns conceitos do Modelo Montessori de intervenção foram seguidos para elaborar as atividades desta área, pois os exercícios de orientação são formulados principalmente (embora não exclusivamente) para a intervenção em demências.
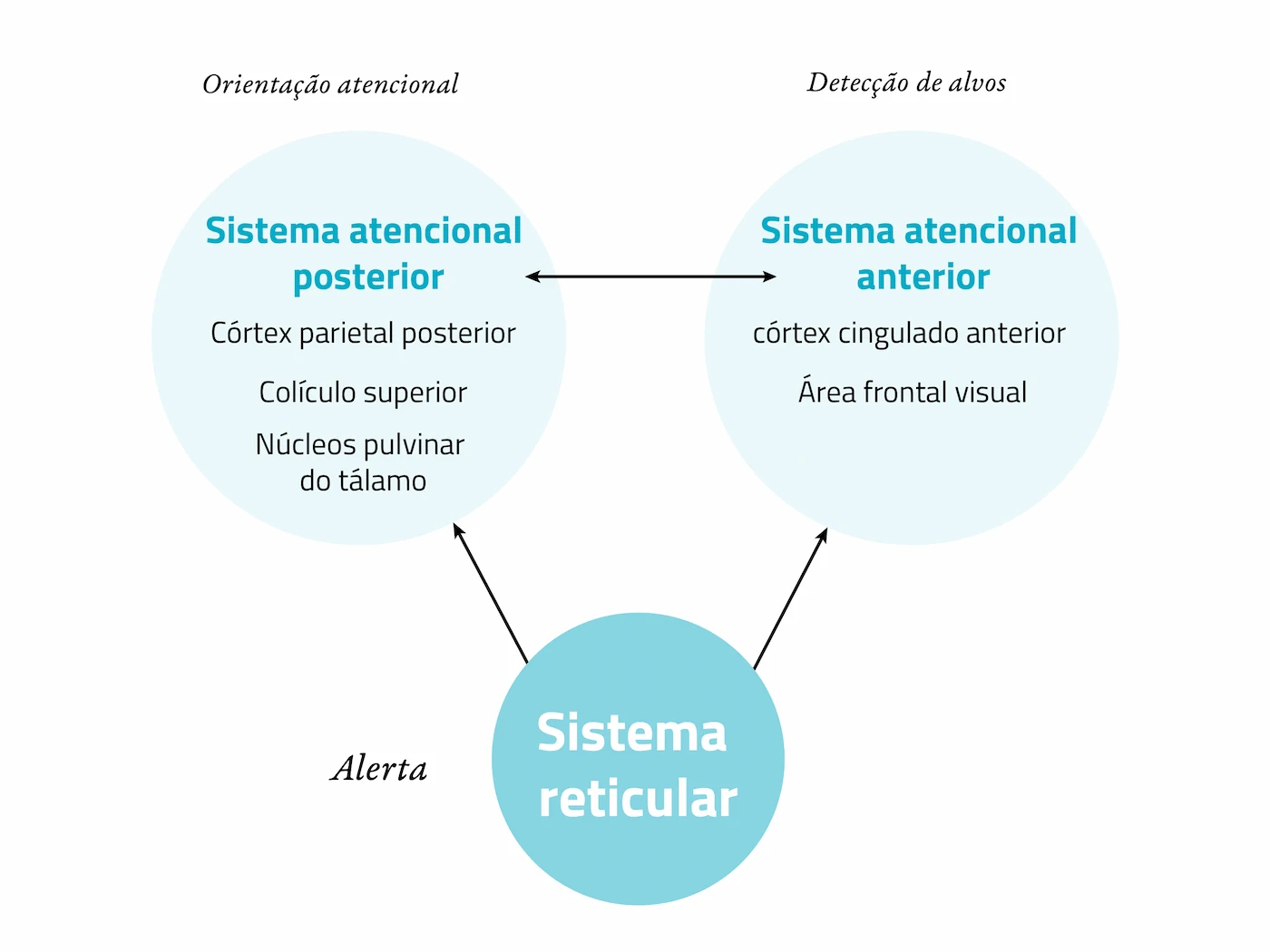
Atenção
A atenção é uma função cognitiva complexa que envolve vários subsistemas e que já foi explicada de diferentes formas. De acordo com a definição de Posner (1995), a atenção é “a seleção de informações para o processamento e a ação conscientes, bem como a manutenção do estado de alerta necessário para o processamento atento” (Posner e Bourke, 1999). A atenção é uma função de capacidade limitada que permite distribuir a atividade cognitiva do organismo com base em esquemas de situação (ORIENTAÇÃO) e em termos de prioridade informativa. Tem duas funções principais: manter o estado de alerta e selecionar a informação relevante à qual dedicaremos recursos (MONITORIZAÇÃO E CONTROLE). As características da atenção são as seguintes (Posner, 1995):
A.- A atenção não processa informações; limita-se a possibilitar ou inibir esse processamento. A atenção pode ser diferenciada anatomicamente dos sistemas de processamento de informações.
B.- A atenção se apoia em redes anatômicas, não pertence a uma zona específica do cérebro nem é um produto global dele.
C.- As áreas cerebrais envolvidas na atenção não têm a mesma função; diferentes funções são apoiadas por diferentes áreas. Não se trata de uma função unitária.
Quais redes atencionais sustentam a atenção?
Existem três redes anatômicas de atenção consolidadas, que funcionam como “redes de mundo pequeno” conectadas em grande escala.
- Sistema reticular ascendente (Posner, 1995): encarregado das tarefas de tonicidade, regulação dos estados de vigília e do estado autônomo para o funcionamento. Seus núcleos principais estão localizados no tronco encefálico, ainda que suas redes se estendam pelas vias ascendentes ao longo de todo o cérebro. Seu principal neurotransmissor é a norepinefrina (NE). As principais entradas de NE do locus coeruleus são a área parietal, o núcleo pulvinar do tálamo e os colículos, ou seja, as áreas que formam a rede atencional posterior.
- Rede cíngulo-opercular (Dosenbach et al., 2008): formada pelo córtex pré-frontal anterior, a ínsula anterior, o CCA dorsal e o tálamo. Sua principal função é manter estável o set cognitivo durante a realização de uma atividade.
- Rede fronto-parietal (Dosenbach et al., 2008): composta pelo córtex pré-frontal dorsolateral, o lobo parietal inferior, o córtex frontal dorsal, o sulco intraparietal, o precuneus e o córtex cingulado medial. Sua principal função é iniciar e ajustar o controle cognitivo, respondendo de forma diferenciada de acordo com o feedback das nossas condutas.
As funções do cerebelo, como um hub entre as redes cíngulo-opercular e fronto-parietal, atuam como um mecanismo de detecção de erros.
A união das redes fronto-parietal e cíngulo-opercular ocorre por meio do cerebelo, que funciona como uma “estação de passagem” entre o tálamo (cíngulo-opercular) e o precuneus, o córtex parietal inferior e o córtex pré-frontal dorsolateral (fronto-parietal), atuando como um mecanismo de análise de erro e conectando-se com áreas que detectam (córtex cingulado anterior) e adotam estratégias (rede fronto-parietal) em resposta ao erro percebido.
Essas redes anatômicas se integram em dois modos ou estados diferentes (Corbetta et al., 2008), uma dupla rede de execução atencional:
• Uma ventral, encarregada de detectar a saliência de estímulos ambientais,
• E uma dorsal, que se encontra ativada em tarefas de atenção focalizada com duração prolongada e também age guiada pela rede ventral.
Ambas as redes não se relacionam de maneira direta.
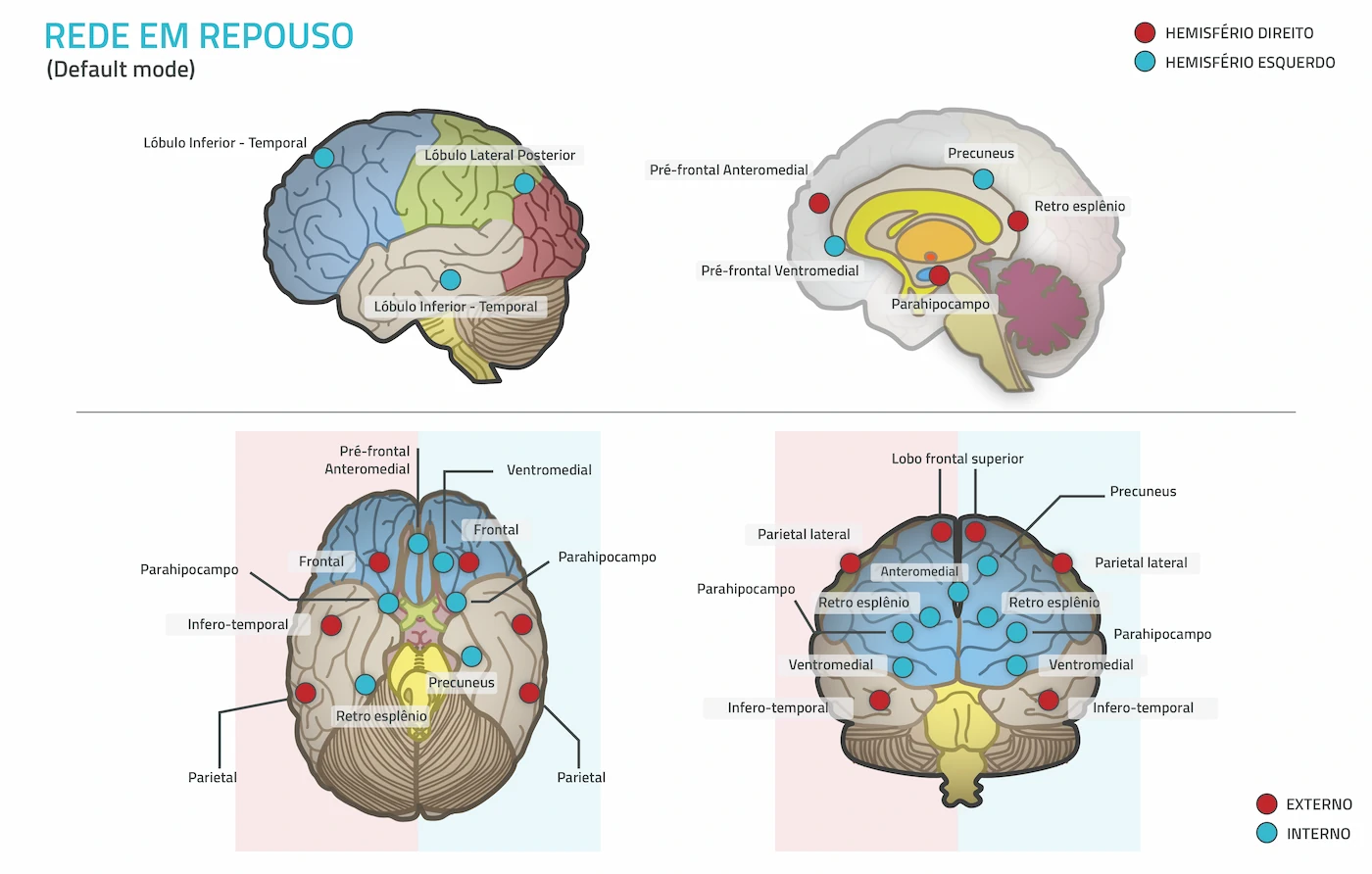
Quais processos cognitivos formam a atenção?
Os processos neurocognitivos se combinam de acordo com o controle interno da atenção (a demanda) que o sujeito deve manter.
Estabelecemos um modelo hierárquico semelhante ao de Ben Yishay, mas focado em conceitos funcionais. Cada um dos processos envolve uma complexidade diferente, pois as tarefas (atividades) criadas na NeuronUP partem de níveis simples, nos quais a função é posta em jogo em sua forma mais isolada, enquanto nos níveis complexos dessas mesmas atividades, os processos neurocognitivos se combinam de acordo com o controle interno (demanda) de atenção que o sujeito deve manter. Diferenciamos as seguintes funções:
- Velocidade perceptiva: Refere-se à velocidade de processamento. Embora originalmente essa variável fosse incluída em habilidades visuoespaciais, a análise fatorial realizada por Miyake et al. (2000) mostra que a demanda executiva é muito baixa em comparação a outros processos visuoespaciais que requerem memória de trabalho.
- Atenção sustentada: é a capacidade do sujeito de manter um foco atencional contínuo.
- Atenção seletiva: é a capacidade de discriminar e focar em um alvo atencional em meio a outros estímulos do ambiente.
- Atenção alternada: é a capacidade de alternar dois (ou mais) conjuntos cognitivos, o que, por sua vez, requer a capacidade de mantê-los no loop fonológico.
- Heminegligência: Incapacidade de alternar, orientar e/ou direcionar o foco atencional de um hemicampo sensorial –visual, auditivo, corporal etc.– para o outro (normalmente o hemicampo afetado é o esquerdo). Consideramos que, embora a heminegligência possa ser vista como um problema de orientação espacial (Lezak, 2004), também há literatura que a considera um transtorno atencional para sua abordagem terapêutica (Sohlberg e Mateer, 1987, entre outros). Diferenciamos esse transtorno daqueles problemas na orientação de hemicampos somáticos que implicam falta de reconhecimento do esquema corporal.
Modelos usados para elaborar materiais
Há diversos modelos principais em que nos baseamos para reabilitar a atenção. Antes de apresentá-los, é necessário lembrar que os processos atencionais não estão desligados de outras funções como memória, funções executivas ou cognição social, e que são sua base anatômica e funcional:
- Modelo de Atenção para a orientação de Ben Yishay (1987): exercícios de tempo de reação; controle atencional e consciência sobre os processos de atenção; manutenção interna dos processos de atenção; processos de controle atencional e alternância.
- Modelos de reabilitação da atenção de Sohlberg e Mateer (1987): Utilizamos o conceito de tarefas organizadas hierarquicamente por níveis de dificuldade, que finalmente incluem componentes complexos de controle atencional e memória de trabalho. As autoras conceitualizam a reabilitação da atenção a partir dos subprocessos específicos que a compõem.
- Treinamento em habilidades atencionais específicas.
- Gerenciamento da pressão de tempo (Fassoti, Kovacs, Eling e Brouwer, 2000).
- Estratégias metacognitivas (Ehlhardt, Sohlberg e Glang e Albin; 2005).
Agnosias
São falhas no reconhecimento, não atribuíveis a déficits sensoriais, deterioração psiquiátrica, problemas atencionais, afasia ou pouca familiaridade com o estímulo apresentado (Frendiks, 1969). As agnosias são sensorialmente específicas: o acesso ao reconhecimento pode ocorrer através de uma via sensorial diferente.
Na neuropsicologia, há um problema na conceituação de transtornos perceptivos que poderia ser classificado como histórico. Desde a formulação do conceito, não está claro se o problema gnósico se deve a uma alteração no armazenamento da memória, a um déficit perceptivo ou mesmo a um problema atencional.
Nesta seção, focaremos principalmente nas agnosias visuais, por serem as mais incapacitantes, pois somos seres que processam o mundo externo principalmente através da visão.
Agnosias visuais
Os problemas na formulação de uma teoria do reconhecimento visual continuam, apesar das tentativas de vários autores em formular abordagens para o fenômeno. Essa dicotomia vem de duas correntes: uma baseada em uma análise computacional da percepção visual e outra que busca, a partir de dados neuropsicológicos, corroborar uma teoria da percepção visual.
Assim, o modelo representacional de Marr e Nishihara (1978; 1982) propõe uma solução computacional que recebeu apoio empírico, mas não o suficiente para estar totalmente validado. O modelo de Biederman com os geons tem maior suporte psicofísico do que o de Marr e Nishihara, mas a teoria não é clara quanto à quantidade de geons primários existentes, tornando-a menos viável. Durante a era das teorias computacionais da visão, faz-se referência à análise de alto nível, mas não aos níveis primários de processamento visual.
Na NeuronUP, aceitamos como válida (por ser empiricamente testada) uma evolução do modelo de Marr e Nishihara, especificamente o modelo de Humphreys e Riddoch de processamento visual. Além disso, consideramos que existe evidência empírica para levar em conta modelos alternativos, como o de Farah, ou o de Warrington e Taylor.
Warrington e Taylor propõem um modelo que se sobrepõe, de certa forma, às agnosias aperceptivas e associativas propostas por Lissauer. Durante a primeira fase da percepção, ocorre uma análise visual e ela acontece de maneira semelhante em ambos os hemisférios. A fase seguinte denomina-se categorização perceptiva e representa os processos que possibilitam a constância do objeto, estabelecendo que duas perspectivas diferentes de um objeto são, na verdade, representações da mesma coisa. Após a categorização perceptiva, ocorre a categorização semântica, que inclui atribuir significado ao que foi percebido.
Para Farah, existem dois sistemas de reconhecimento independentes: um baseado em um sistema de reconhecimento por partes –que analisa as partes do objeto com base em representações armazenadas dessas características– e outro baseado na análise holística –que analisa o ajuste entre representações holísticas armazenadas e o input–. Isso é compatível com os modelos de representação estrutural –sistema de análise de partes– e com os modelos baseados no ponto de vista –sistema holístico–. Ela utiliza esses dois sistemas para explicar a evidência de três alterações no reconhecimento, que se explicam com base na disfunção desses dois sistemas:
- Prosopagnosia, correspondente a uma disfunção no sistema de análise holística.
- Alexia, correspondente a uma disfunção do sistema de reconhecimento baseado em partes.
- Agnosia de objetos, explicada com base em uma deterioração parcial de um ou ambos os sistemas, e que é determinada pelo grau em que um objeto é reconhecido de modo holístico ou por partes.
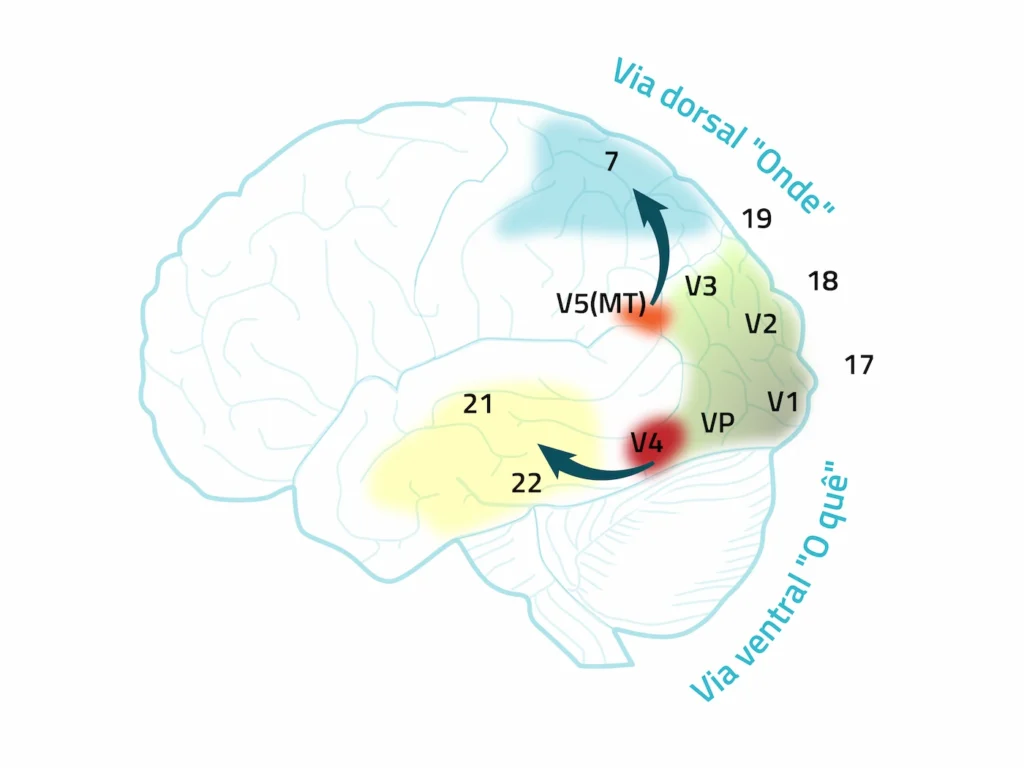
Assim, ela propõe um contínuo, no qual os extremos são os sistemas de análise que explicam síndromes puros, e o espaço entre ambos os extremos é uma gradação da alteração funcional que explica os déficits gnósicos.
Segundo Kolb e Wishaw, há diversas teorias que estabelecem relações entre redes neurais e determinados aspectos do comportamento espacial. Assim, a via dorsal mediaria a “visão para a ação”, direcionando inconscientemente as ações no espaço em relação à distribuição dos objetos e de nós mesmos (sustentando, assim, o comportamento espacial egocêntrico). Por outro lado, a via ventral mediaria a “visão para o reconhecimento”, orientando as ações, desta vez conscientemente, em função da identidade dos objetos (sustentando o comportamento espacial alocêntrico).
O modelo de Humphreys e Riddoch (2001) é um desenvolvimento do de Marr e Nishihara, complementado com uma série de etapas intermediárias e incluindo a integração entre os processamentos perceptivos top-down e bottom-up. Na primeira etapa, ocorre um processamento das características básicas dos estímulos (cor, forma, profundidade, movimento), gerando um esboço primário (por meio de sistemas de representação perceptual) – ver Schachter, 1994. Na segunda etapa, seria esboçado um contorno geral do objeto para, depois, representar um esboço primário em 3D, a fim de percebê-lo de forma estável (embora também se possa reconhecer através de estímulos salientes em perspectivas incomuns). Depois de integrar as características do objeto, pesquisamos nas marcas de memória dois tipos de informação: uma referente à forma do objeto e outra referente às suas propriedades semânticas. Um caso especial de processamento visual são os rostos, para o qual o leitor pode consultar Ellis e Young (2000).
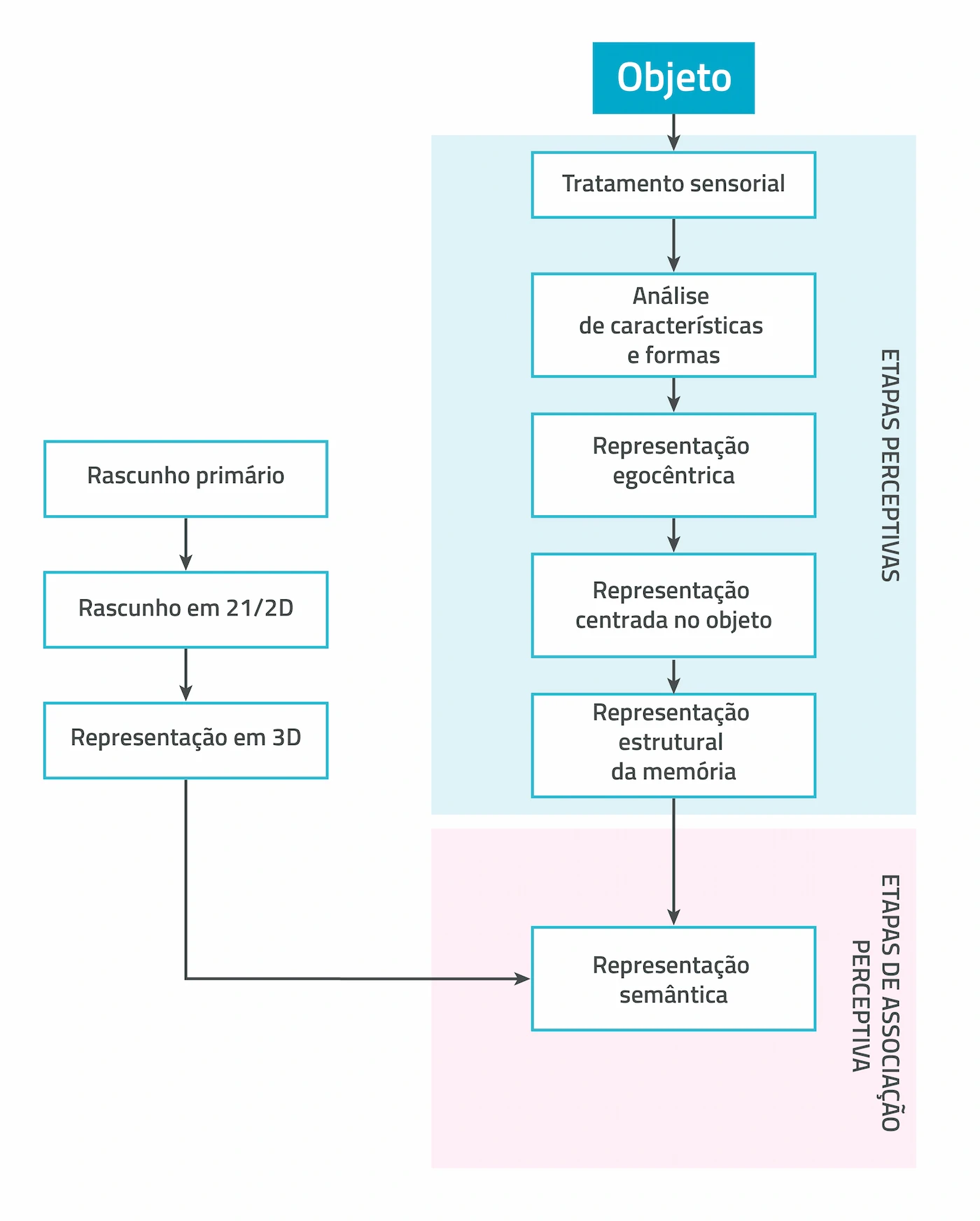
Tipos de agnosias
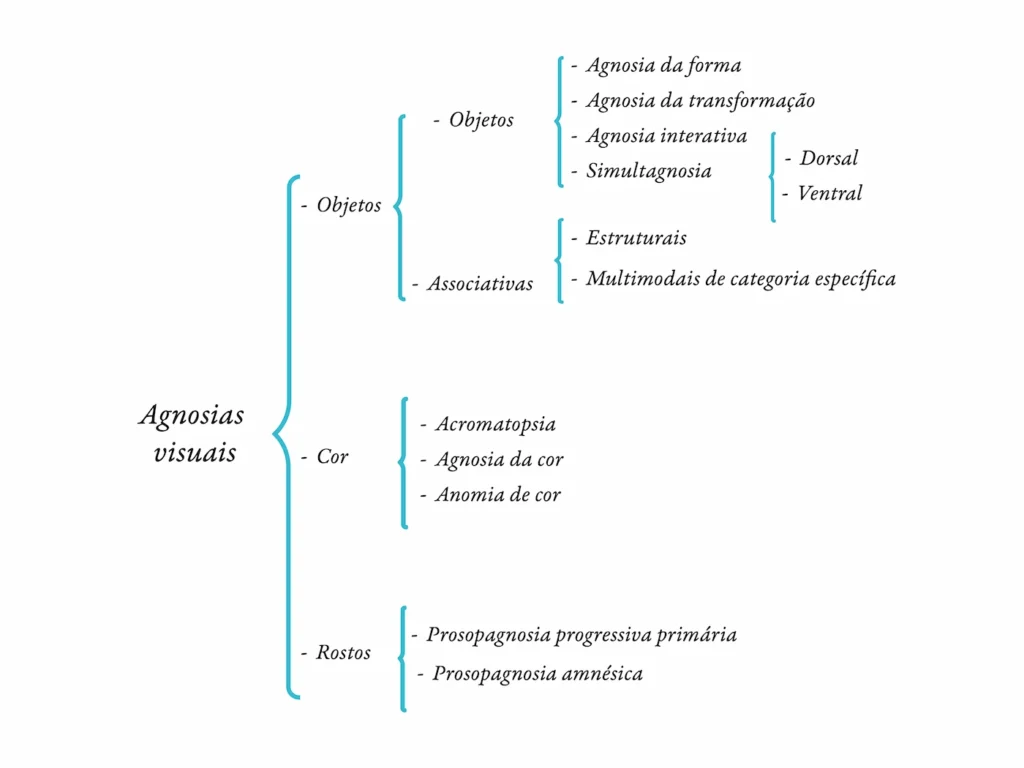
Aperceptivas
Características
- Sem acesso à estruturação perceptiva das sensações visuais.
- Ni dibujo ni emparejamiento.
- Não copiam nem emparelham.
- Busca de detalhes no objeto, que podem levar ao reconhecimento mas costumam ser fontes constantes de erro.
- Em formas não maciças: erros de identificação de imagens sobrepostas.
- Localização: heterogênea, unilateral ou bilateral posterior, pode ser uma lesão difusa –abrangendo bilateralmente a zona parieto-têmporo-occipital posterior–, embora às vezes seja focal, afetando os giros temporooccipitais inferiores, o lingual e o fusiforme.
Tipos
A nomenclatura “aperceptiva” para todos os déficits contemplados não é exaustiva. Muitos pacientes mostram déficits específicos e podem executar algumas tarefas perceptivas, enquanto outras não (p. ex. Podem discriminar formas mas não conseguem executar a discriminação Figura-fundo). É útil distinguir discriminação de forma, de brilho, de cor e de forma.
- Agnosia de formas.
- Agnosia de transformação: déficit de categorização perceptiva; incapacidade de reconhecer objetos em perspectivas não canônicas. Teste de perspectivas visuais.
- Agnosia de integração: incapacidade de reconhecer a relação global entre detalhes de um todo. Tarefas de decisão de objetos com desenhos e silhuetas.
- Simultagnosia: incapacidade de reconhecer imagens complexas enquanto os detalhes, fragmentos ou objetos isolados podem ser percebidos, sem que se possa realizar uma síntese coerente; os sujeitos só podem ver um objeto por vez.
- Dorsal: lesão parieto-occipital bilateral, relacionada a transtornos oculomotores.
- Ventral: lesão temporo-occipital esquerda, associada a problemas perceptivos.
- Localização: heterogênea, unilateral ou bilateral posterior, pode ser uma lesão difusa e extensa –abrangendo bilateralmente a zona parieto-têmporo-occipital posterior–, embora às vezes seja focal, afetando os giros lingual e fusiforme.
Associativas
Características
• Estruturais: Falhas na representação estrutural dos objetos. Acesso tátil preservado. Copiam desenhos, mas possíveis dificuldades na nomeação. Objetos reais são melhores reconhecidos que imagens. Lesão bilateral dos giros lingual e fusiforme.
- Déficit no reconhecimento apesar de a habilidade perceptiva estar normal. Para diferenciar, deve-se verificar se o sujeito conserva a descrição de um objeto e se é capaz de copiá-lo.
- Não emparelham objetos por categorias ou funcionalmente, apresentando erros morfológicos, funcionais e perseverativos.
- Tentar apresentar o estímulo por outra via sensorial.
- As lesões afetam a região posterior do hemisfério esquerdo, normalmente.
• Polimodais: Falhas no reconhecimento de objetos e suas funções. Erros perseverativos na nomeação e semânticos. Não há imitação por mímica do uso de objetos por uso verbal. O desenho é realizado de forma pobre, assim como as descrições de objetos, em contraste com palavras abstratas. Lesão na área 39 – giro angular esquerdo –, ou nas vias aferentes a ela, lóbulos lingual e fusiforme.
• Agnosias categoriais: Déficit a nível de tratamento semântico das percepções estruturais ou ao nível de acesso a esse tratamento. Distinguimos reconhecimento de objetos do reconhecimento de ações. O déficit contrasta com a preservação dos conhecimentos verbais na denominação de objetos a partir de sua definição verbal. Pode haver déficit na memória semântica.
Agnosias de cores e acromatopsia
Incapacidade de nomear cores apresentadas ou selecionar uma cor cujo nome é fornecido pelo avaliador.
- Acromatopsia: incapacidade de perceber cores em uma parte ou em todo o campo visual. Lesão unilateral ou bilateral que afeta o córtex inferior ventromedial, estruturas do giro lingual e fusiforme, especializados na codificação das cores.
- Agnosia de cores: Falha no emparelhamento de cores com objetos.
- Anomia de cores.
Prosopagnosias
Incapacidade de reconhecer e/ou integrar traços faciais em um todo reconhecível ou significativo.
– Lesões normalmente temporo-occipitais bilaterais, embora uma lesão unilateral direita na junção occípito-temporal com a área parhipocampal direita também possa ser suficiente.
• Prosopagnosia primária progressiva.
• Prosopagnosia amnésica.
Outras agnosias de acordo com a modalidade sensorial
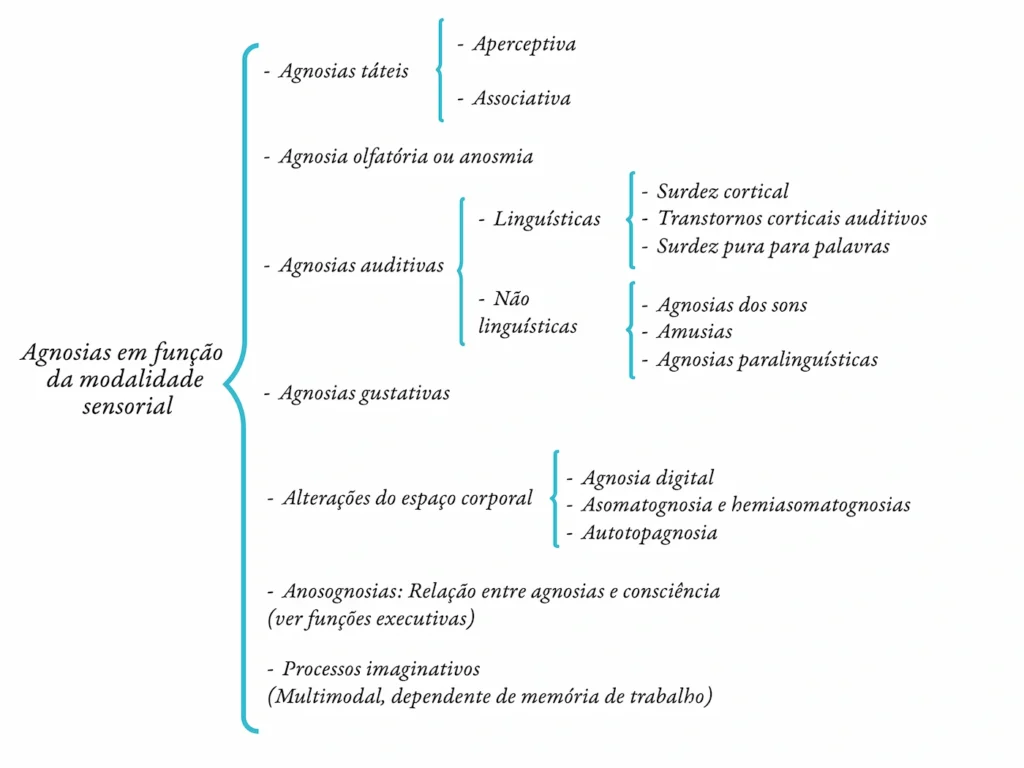
Modelos usados para elaborar materiais
Não há um modelo específico de reabilitação para as agnosias, pois elas dependem de cada modalidade em particular. Entretanto, podemos falar em técnicas específicas para a compensação dos déficits funcionais que provocam. Nesse sentido, embora seja provável que modelos de reabilitação baseados em realidade virtual e hardware possam promover a reabilitação de alguns tipos de agnosia específica (especialmente as espaciais, táteis e processos imaginativos), o software é aplicável à reabilitação das agnosias visuais e auditivas, e serve de apoio também para intervenções em outras modalidades.
O objetivo de nossas atividades é favorecer a varredura (“scan”) visual e a discriminação de traços visuais (agnosias visuais); construção e discriminação em 3D; conseguir associações entre estímulos auditivos e formas/objetos/pessoas específicos por meio de estratégias de discriminação; diferenciar palavras de não-palavras etc.
Para isso, realizamos treinamentos específicos em exploração visual, elaborando materiais que podem ser analisados através de autoinstruções.
Também desenvolvemos materiais recortáveis, que podem ser usados na discriminação de formas, na avaliação de traços diferenciais:
- Jogos para a discriminação de tonalidades de cor.
- Jogos para construção em 3D.
- Jogos para a discriminação de estímulos salientes similares.
- Jogos nos quais podem ser inseridos estímulos reconhecíveis para discriminar elementos semelhantes, mas de natureza diferente (objetos perigosos vs. seguros).
- Elaboração de desenhos e mapas para orientação espacial.
- Quebra-cabeças em 3D.
- Criação de programas para segmentação dos hemicampos visuais.
- Elaboração de instruções e diretrizes para análise de objetos.
Apraxias
Esclarecimento: Não incluímos aqueles déficits aparentemente práxicos que são devidos à ausência ou ao déficit no sistema conceitual sobre os objetos (ou seja, o sujeito não saber que X é uma ferramenta). Sim, incluímos outros aspectos do sistema conceitual envolvidos em praxias: esquemas de execução motora com ferramentas, objetos ou execução com partes do corpo, identificação de gestos e planejamento motor (sequenciação na execução motora). Além disso, incluímos déficits nos comandos que regulam a execução motora em termos temporoespaciais –sistema de produção–. Não se incluem déficits sensoriais ou devido à bradicinesia ou outros transtornos do movimento, nem alterações de compreensão, capacidade executiva (planejamento) ou inteligência.
A apraxia não é um transtorno devido à perda do significado dos objetos, nem a uma disfunção motora primária. Trata-se de um déficit heterogêneo de tipo cognitivo-motor, no qual se altera a capacidade de executar movimentos intencionais, não atribuível a uma incapacidade de compreensão, agnosia ou dificuldades motoras (tremor, ataxia, alterações posturais).
A apraxia está fortemente associada à degeneração córtico-basal, a lesões do hemisfério esquerdo e a demências.
Apesar de sua importância na prática clínica, o problema da formulação das apraxias é ainda maior do que a questão da formulação das agnosias, mencionada anteriormente. Isso ocorre por dois motivos: por um lado, a formulação inicial do conceito (Liepmann, 1900); por outro lado, a ampla distribuição dos principais circuitos anatômicos que sustentam essa função (eixos frontotemporal e frontoparietal –“sistemas de neurônios-espelho”–, gânglios basais, cerebelo e substância branca).
Modelos de apraxia
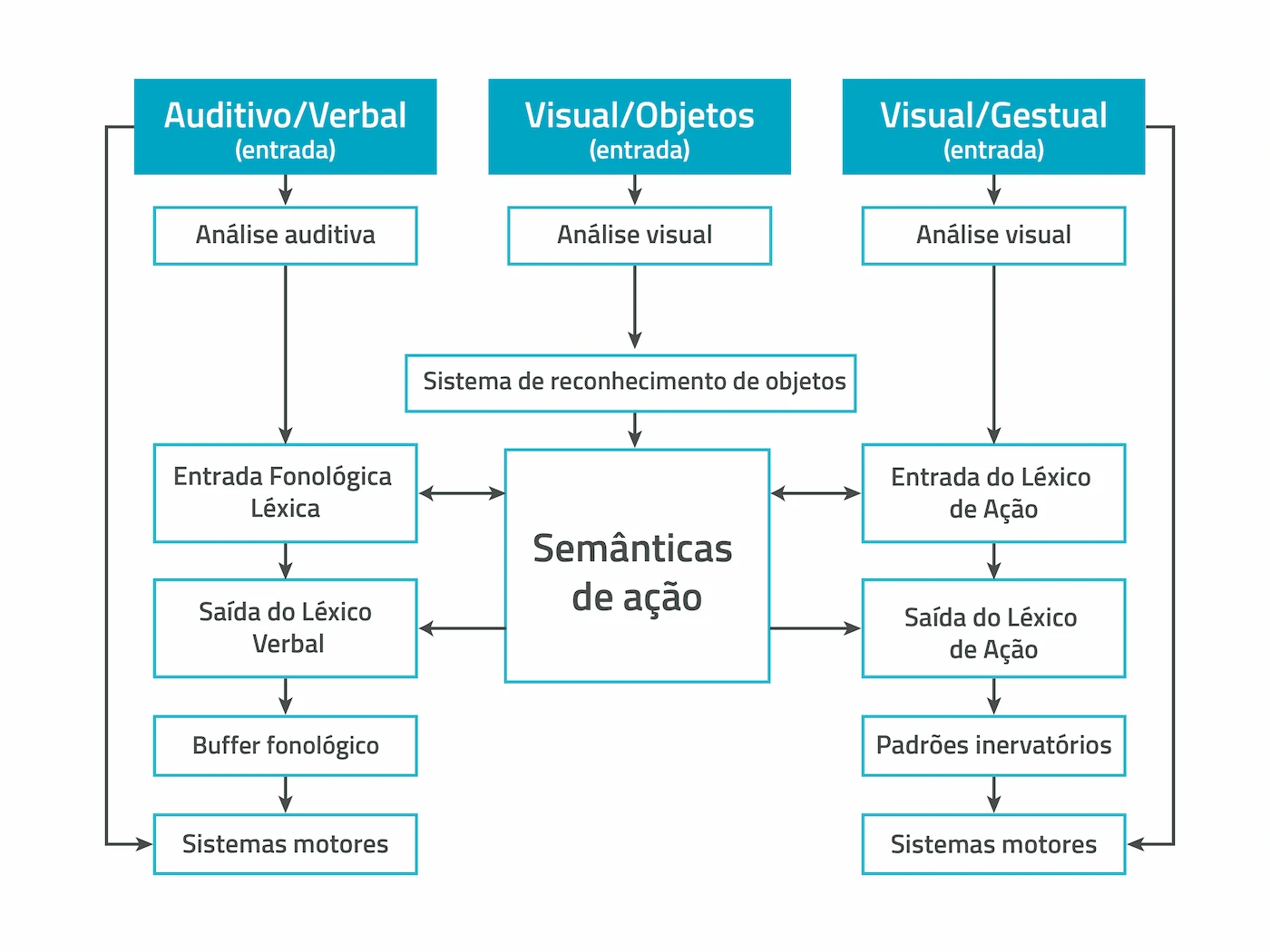
Um modelo amplamente utilizado para explicar as apraxias é o de Rothi, Ochipa e Heilman (citado em Junqué, 1999), que distingue duas vias de entrada de informação visual (imitação e ação com objeto) e uma via verbal (ordem). Essas entradas de informação geram lexicons de entrada de ação, enquanto a produção e a realização são feitas por um lexicon de saída. Os tipos de atos motores que se alteram na apraxia seriam:
• Movimentos transitivos: relacionados ao uso de objetos.
• Movimentos intransitivos: relacionados à realização de gestos simbólicos, comunicação não verbal [com significado], ou intransitivos sem significado [imitação].
Tipos de apraxia
Ideomotoras
Componente espacial e temporal da execução motora: programas de ação, execução do ato motor (espacial e temporal).
Ideatórias
Componente conceitual da execução motora: conhecimento da função do objeto, conhecimento da ação e conhecimento da ordem serial dos atos que levam a essa ação.
Bucofaciais e oculares
Esclarecimento: Os transtornos de linguagem como a apraxia da fala e a agrafia apráxica não estão incluídos nesta seção, embora sejamos conscientes de que alguns autores os conceitualizem como alterações na execução e/ou na conceituação dos engramas motores de produção da fala. Esse tipo de alteração é abordado em Linguagem.
Bucofaciais: Capacidade de executar movimentos intencionais com estruturas faciais que incluem as bochechas, os lábios, a língua e as sobrancelhas.
Oculares: Inclui apraxia de pálpebra e apraxia ocular. Pálpebra: capacidade de executar ações com as pálpebras. Ocular: capacidade de realizar movimentos sacádicos oculares sob comando.
Visoconstrutivas
Capacidade de realizar o ato motor distribuindo (relação todo-partes) corretamente a execução dos movimentos nos eixos espacial e temporal. Implica um planejamento referente às estimativas visoespaciais –sobre o objeto– que o sujeito realiza para executar a conduta. A diferença em relação ao planejamento (em Função Executiva) residiria em que, enquanto a praxia é um caso específico que envolve o ato motor e a distribuição de sua execução, o planejamento implica estimativas semânticas e temporais de atos, mas não necessariamente a execução de engramas motores. Também não se incluem aqui as Habilidades Visoespaciais, que não envolvem execução motora nem a relação das partes e do todo de um objeto já dado –sem transformações– mas sim transformações mentais com objetos.
Breves considerações sobre as apraxias: Poderia ser estabelecida uma classificação alternativa de acordo com a realidade da avaliação neuropsicológica (gestos transitivos, intransitivos, por imitação, sob comando, com ferramentas, espontâneos, atos simples, atos seriados). Também poderia ser complementada com os modelos de Cubelli et al. (2000) ou com o modelo de Buxbaum e Coslett (2001).
Sistemas funcionais das praxias
Os sistemas funcionais envolvidos na praxia são variados. Podemos diferenciar até seis sistemas implicados no movimento. Cada um deles tem uma especificidade funcional, mas, como no caso da atenção, o movimento é uma atividade composta por subprocessos inter-relacionados.
Cerebelo:
Envolvido no ajuste fino dos movimentos e na sua execução têmporo-espacial. É uma estação de passagem (“hub”) que contém aprendizagens motoras e corrige os movimentos, exercendo um monitoramento de baixo nível.
Gânglios da base:
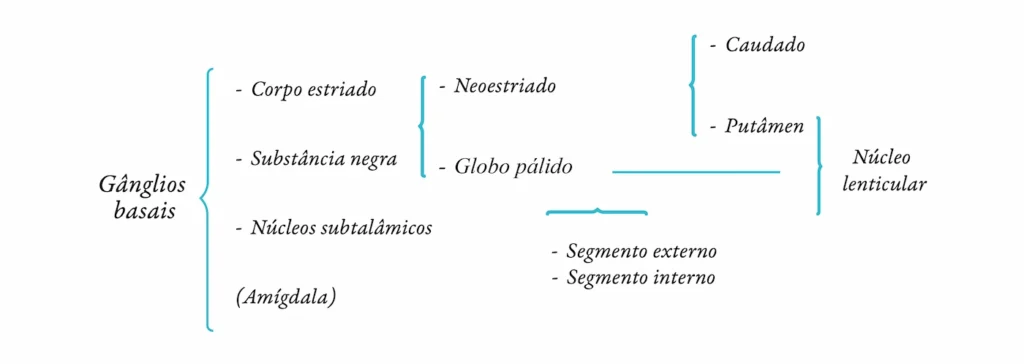
São nodos importantes para o processamento motor. Sua função é regular e filtrar a informação neuronal que provém de outras áreas (tálamo) para que seja processada na área de processamento superior (córtex). Os gânglios da base têm efeitos opostos na conduta motora dependendo das vias implicadas. A via direta implica o impulso de excitação neuronal desde o tálamo até o córtex, aumentando a atividade motora. A via indireta diminui o input excitatório dessas duas áreas, portanto reduzindo a atividade motora. Além disso, os gânglios da base desempenham um papel importante no sistema de recompensa, participando na previsão da imediaticidade ou demora das recompensas (Tanaka, Doya, Okada, Ueda, Okamoto & Yamawaki, 2004).
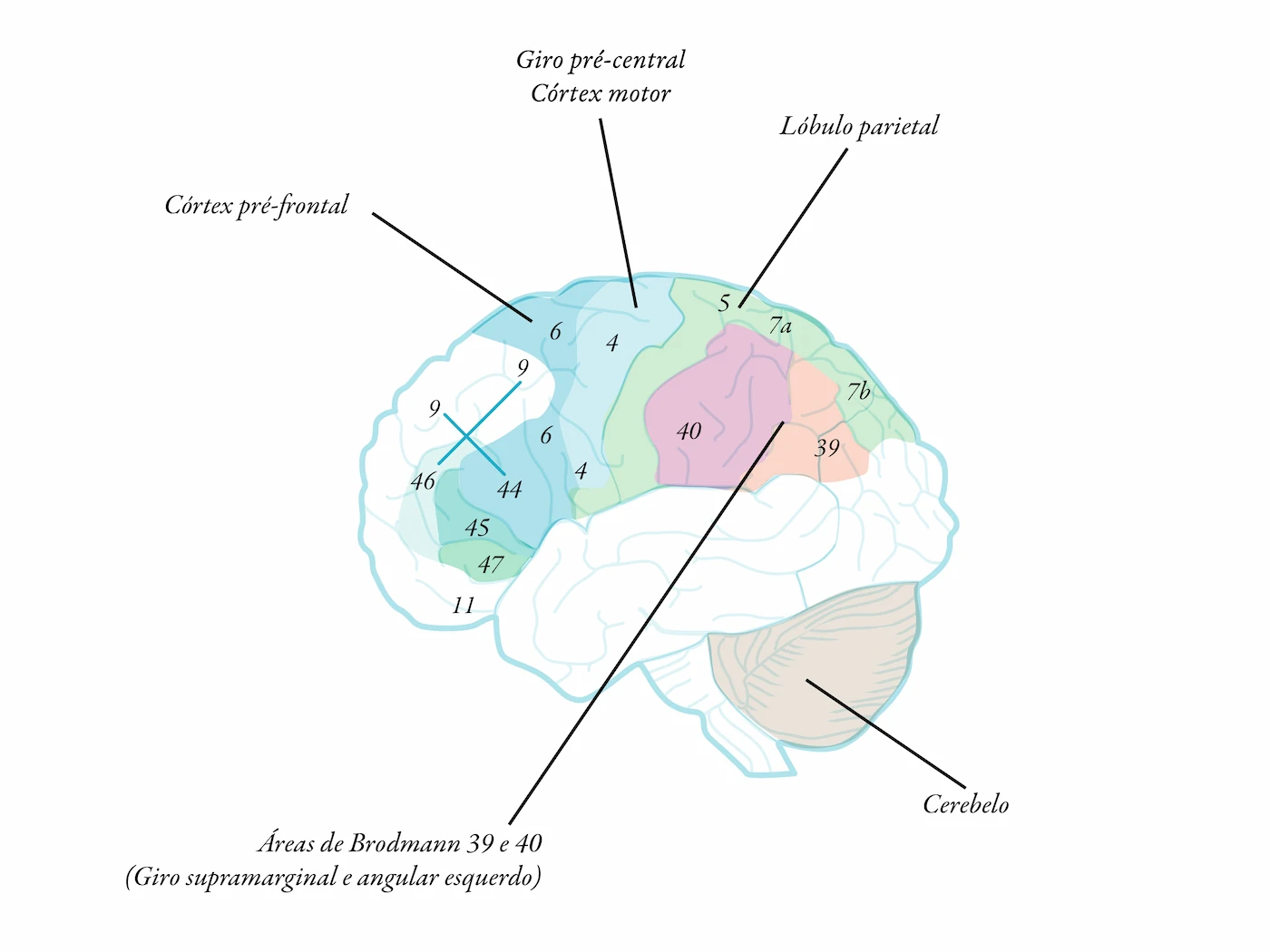
Lobo parietal (áreas 5 e 7):
A área 5 está especialmente envolvida na manipulação de objetos, enquanto a área 7 está implicada em questões visoespaciais do movimento.
Lobo parietal inferior esquerdo:
Contém engramas automatizados por meio da experiência; quando se realizam computações sobre movimentos com a finalidade de tomar decisões, essas áreas são um “armazém” em que se buscam padrões de movimento adquiridos.
Áreas 39 e 40 de Brodmann (circunvoluções angular e supramarginal esquerdas):
São áreas multimodais e polimodais de integração da informação sensorial, o que permite transformar as representações em movimento.
À medida que avançamos para um polo anterior do cérebro, as funções são menos automatizadas e implicam processos cognitivos de alto nível (planejamento, sequenciação temporal, recuperação de esquemas de memória, tomada de decisões, flexibilidade).
“Alça” motora frontal:
Área suplementar motora, córtex pré-motor e córtex motor primário. Trata-se de uma alça articulatória de tipo motor, uma rede de processamento cognitivo de alto nível que envia ordens motoras aos diferentes núcleos de execução.
Córtex pré-frontal:
Realiza os cálculos necessários para a tomada de decisões do movimento, adapta estratégias motoras, monitora o feedback do ato motor e gera padrões de movimento.
Estratégias para a reabilitação das apraxias
A análise da execução motora em cada paciente permite estabelecer os processos específicos que se encontram alterados. Dependendo do processo alterado, durante a reabilitação será dada ênfase a uma ou outra técnica. Também é relevante estabelecer o tipo de conduta que se deseja reabilitar. Em algumas ocasiões, o objetivo da reabilitação é a imitação de gestos, enquanto em outros casos são sequências propositivas ou a reabilitação com uma ferramenta específica. Em qualquer caso, o objetivo (Buxbaum et al., 2008) nunca é “curar” a apraxia, mas compensar os déficits presentes buscando a independência funcional, minimizando os efeitos que a apraxia tem na vida diária. O tratamento das apraxias (e de outros déficits que envolvem as funções espaciais) pode ser acompanhado de estimulação proprioceptiva.
Existem duas abordagens principais na reabilitação da apraxia (Edman, Webster & Lincoln, 2000): a generalização do treinamento e as abordagens funcionais. A generalização do treinamento parte da ideia de que um paciente pode generalizar o treinamento em uma área funcional com conteúdos simples para outros conteúdos e atividades funcionais mais complexas, porém semelhantes. A abordagem funcional busca reabilitar ou compensar o sintoma, mais do que a causa, e trabalha com atividades específicas da vida diária. Ambos os modelos são adotados nas atividades que elaboramos.
O objetivo da reabilitação compensa os déficits cognitivos buscando uma funcionalidade independente.
O material foi elaborado para ser significativo e lúdico, graduando a sequencialidade das ações e a adaptação dessas sequências motoras a contextos mutáveis.
Um aspecto específico é a reabilitação no espaço das condutas. Para isso, idealizamos um projeto em que o sujeito pode ver suas ações de maneira simultânea no computador, através de eixos que dividem o espaço, de modo que ele obtém um feedback imediato de sua execução.
Os princípios que orientam a elaboração dos materiais são a modelagem, o encadeamento, as aproximações sucessivas e a aprendizagem sem erro (embora em muitas apraxias o cerebelo esteja preservado e seja capaz de armazenar informações de aprendizagem, de modo que o erro pode ser necessário para obter feedback e treinar os movimentos).
Também integramos algumas técnicas e auxílios nas atividades. Trabalhamos com a possibilidade de inserir a personalização nas instruções de análise de sequências. Outros aspectos que desenvolvemos nas atividades são as pistas na execução de sequências, o uso da imitação e a possibilidade de integrar na plataforma vídeos de imitação e repetição.
A abordagem funcional emprega atividades específicas da vida diária.
O objetivo futuro nesta função é a sistematização de inúmeras condutas com a possibilidade de personalizar as aproximações sucessivas.
Habilidades visoespaciais
As habilidades visoespaciais são as capacidades de perceber, apreender e manipular mentalmente um objeto. Por se tratar de uma habilidade que implica orientação intrapsíquica e manipulação mental de elementos espaciais, diferenciamos das capacidades de reconhecimento –que são tratadas em agnosias visuais–, da localização no espaço –que é tratada em orientação e em agnosias corporais– e do componente espacial do movimento –que é abordado em apraxias–.
As habilidades visoespaciais são um componente específico da função visoespacial que se restringe à percepção, apreensão e manipulação de objetos mentais. As alterações das habilidades visoconstrutivas são “disrupções na formulação de atividades em que a forma espacial do produto não é satisfatória, desde que não exista uma apraxia de movimentos simples” (Benton, 1969). Estão associadas ao hemisfério não dominante para a fala e aparecem com frequência acompanhadas de alterações na percepção espacial. Esses déficits estão entre as disfunções mais prováveis após um dano no lobo parietal, independentemente do hemisfério. As desordens na construção tomam formas diferentes dependendo do hemisfério afetado. Se o hemisfério é o esquerdo, afetam a programação ou a ordem dos movimentos necessários para a atividade construtiva (praxias e planejamento). Lesões no hemisfério direito implicam a alteração das relações espaciais ou da manipulação mental espacial.
As habilidades visoespaciais: Memória de trabalho visoespacial
Os processos visoespaciais exigem maior participação executiva e são mais sensíveis à interrupção durante a realização de outras tarefas.
A memória de trabalho visoespacial é considerada um subcomponente da memória de trabalho, relacionada, mas não idêntica, às funções executivas. O esboço visoespacial funciona como um sistema de trabalho com armazenamento limitado, não específico (de uma modalidade sensorial), capaz de integrar informação visual e espacial em uma representação unitária (Baddeley, 2007). Os processos visoespaciais (menos automatizados que os verbais, compostos por itens menos familiares e com um processo de verificação do resultado mais complexo) demandam uma maior implicação executiva e, portanto, são mais sensíveis à disrupção durante a realização de outras tarefas que exigem maior carga atencional/executiva.
Miyake, Friedman, Rettinger, Shah e Hegarty (2001) propuseram um modelo triplo funcional composto por: visualização espacial, relação espacial e percepção visoespacial. A visualização espacial compreende processos de apreensão, codificação e manipulação mental de formas espaciais (3D). As relações espaciais (rotação) são transformações mentais que implicam a manipulação de objetos em 2 dimensões, nas quais a velocidade é um fator relevante. A rotação mental implica dois processos: primeiro, a representação de um objeto; em segundo lugar, a transformação mental sobre essa representação, de modo que a figura resultante seja comparada com a original. Por último, a velocidade perceptiva visoespacial é a rapidez e a eficácia para realizar julgamentos perceptivos sem transformações. Os três fatores são distintos, mas correlacionados.
Esses três processos diferem no grau em que demandam componentes executivos (determinados, por exemplo, pela concentração de oxigênio em zonas cerebrais). As tarefas de rotação espacial se encontram em um ponto intermediário de demanda executiva. As tarefas de visualização espacial requerem maior controle executivo. As tarefas de percepção visoespacial têm um perfil baixo de demanda executiva. Quanto maior a demanda executiva requerida pelo processo –em termos de controle atencional e distribuição de recursos–, maior é a relação com o raciocínio e a inteligência psicométrica (Conway, Kane e Engle, 2003).
Devido a isso, incluímos o primeiro dos três fatores (velocidade perceptiva) na função de Atenção, já que requer pouca demanda executiva, tratando-se de processos dependentes de tempos de reação.
Bases anatômicas das habilidades
A função visoespacial lida com representações visuais estáveis, as transforma e verifica as respostas às situações.
A imaginação visual e a retenção de elementos são cruciais para compreender as bases anatômicas das habilidades visoespaciais. Embora haja um consenso atual de que as funções visoespaciais compartilhem substratos neuronais com as funções visuais, também existe uma função visoespacial que manipula representações visuais estáveis, independentes de inputs visuais (Moulton e Kosslyn, 2009), as transforma e verifica as respostas às situações. E essa habilidade está fortemente relacionada com a memória de trabalho.
Devido, portanto, à sua natureza multifatorial, é preciso compreender que essas funções ocorrem em grandes escalas neurais, envolvendo todo o cérebro. Por depender de componentes da memória de trabalho, consideramos que o córtex pré-frontal dorsolateral é fundamental para executar esse tipo de processo. Além disso, o córtex parietal direito contém esquemas espaciais que permitem a análise espacial dos objetos e até mesmo a ordem espacial das sequências numéricas. Por fim, o cerebelo demonstrou ser um componente importante na rotação espacial mental (Molinari, Petrosini, Misciagna e Leggio, 2003), considerando a reabilitação desses transtornos um passo prévio à reabilitação motora.
Reabilitação das habilidades
Os materiais elaborados para a reabilitação das habilidades visoespaciais são hierárquicos (em termos de complexidade analítica) e baseiam-se em técnicas que demonstraram efetividade (Cicerone et al., 2000). Como menciona Weinberg (1979), os déficits em habilidades visoespaciais podem melhorar com um tratamento em múltiplos níveis de processamento visoespacial, de modo que, para obter resultados robustos e mais generalizáveis, pode ser benéfico utilizar tanto atividades acadêmicas complexas quanto atividades de processamento visual e atividades manipulativas. Algumas das técnicas que utilizamos para elaborar nossos materiais são:
- Materiais para o treinamento em varredura e análise visual.
- Rotações de objetos em 3 dimensões.
- Auxílios para a análise de componentes visuais.
- Treinamento na análise das características básicas de estímulos, como profundidade, tamanho e distância entre objetos.
- Treinamento em orientação visoespacial.
- Treinamento para a organização visoespacial simples e complexa.
- Atividades para a consciência somatossensorial (recomendações).
- Treinamento em técnicas de organização espacial.
- Técnicas de imaginação visual.
Os materiais permitem exercitar as habilidades visoespaciais em vários níveis e, além disso, contêm exercícios lúdicos com elementos abstratos, mas também significativos para o sujeito que vai realizá-los. Por isso, propomos exercícios que integrem também a visoconstrutividade com materiais de volume (3D) para formar elementos reais, e pistas espaciais para leitura, entre outros.
Assim como acontece com as praxias, muitos desses materiais servem para adquirir estratégias para compensar os déficits, mais do que para “curar” os problemas, e buscam ensinar estratégias que possam ser generalizadas para a vida cotidiana. A prática das habilidades visoespaciais em pessoas com heminegligência, acompanhada de treinamento em varredura visual, é reconhecida como efetiva e permite generalizar os resultados para diversas áreas da vida (acadêmica, laboral, leitura, atividades da vida diária etc.) (Gordon, Hibbard, Egelko, Diller, Shaver & Lieberman, 1985), sendo a prática intensiva por níveis a melhor estratégia possível.
Memória
A memória é a capacidade de recuperar de maneira efetiva informações previamente aprendidas (codificadas e armazenadas). Segundo Wilson (2009), pode ser conceitualizada em diferentes termos: em termos de tempo; como memória dependente do tipo de informação; como memórias de modalidade específica; como estágios de recordação, recuperação ou reconhecimento; como memória implícita ou explícita; ou como memória retrógrada ou anterógrada. A seguir, expomos brevemente o modelo de Larry Squire, embora também queiramos enfatizar os modelos sobre processos de memória. Se bem que esses processos não estejam integrados no marco conceitual da plataforma, foram considerados na elaboração dos materiais.
Sistemas
Os modelos centrados nos processos de memória complementam os modelos de sistemas.
Squire (1987) propõe uma representação esquemática na qual ele divide os sistemas de memória com base na propriedade de que seus conteúdos podem ser ou não verbalizados ou declarados, em oposição a um conhecimento de tipo procedimental sem necessidade de recordação consciente. A memória declarativa pode ser diferenciada entre fatos (M. semântica) e eventos (M. episódica). A esses sistemas podem ser adicionados dois: um sistema de memória de curto prazo, dois tipos de memórias breves sensoriais e conceituais relativamente automáticas e um sistema de representação perceptual (módulos de domínio específico que operam na informação perceptual na forma e estrutura das palavras e dos objetos). As propriedades de cada um dos sistemas são:
Memória declarativa:
Recordação consciente de eventos e fatos. Compara e contrasta informações, codifica lembranças em termos de relação entre múltiplos itens e eventos. É composta de representações flexíveis e de representações autobiográficas e do mundo. Classifica-se em termos de verdadeira ou falsa. É proposicional e cumpre o princípio de exclusividade (o que é próprio do item ou evento).
Memória procedimental:
Não é nem verdadeira nem falsa (não possui essa qualidade). É do tipo disposicional. Não coleta eventos, mas atua e processa comportamentos. É modificável com sistemas específicos de atuação e é ativada pela reativação dos sistemas.
Ambas servem a propósitos diferentes e são funcionalmente incompatíveis, embora estejam relacionadas, o que satisfaz os critérios expressos por Tulving para que os sistemas de memória sejam considerados como tais. Elas trabalham em paralelo para sustentar a conduta: se uma forma de conhecimento é prejudicada, a outra pode surgir para manter a aprendizagem necessária em outro formato.
O leitor pode consultar a obra de Moscovitch (1994), que propõe um modelo em que há três componentes modulares de memória e um sistema central frontal. Cada um dos sistemas mediria processos que dominam a execução em diferentes tipos de tarefas de memória (ver gráfico).
De acordo com a Teoria das Zonas de Convergência de Damasio (1989), o córtex cerebral sensorial posterior e intermediário contém traços fragmentários de memória que incluem componentes característicos – de eventos, objetos, etc. – e que podem ser reativados mediante ancoragens combinatórias apropriadas. Os padrões de atividade neuronal que correspondem às propriedades físicas distintivas de uma entidade são registrados nas mesmas conexões cerebrais ativadas durante sua percepção. No entanto, os códigos que permitem ancorar e descrever as coincidências espaciais e temporais são armazenados em traços neuronais separados, chamados zonas de convergência. Essas zonas de convergência acionam e sincronizam os padrões de atividade neuronal correspondentes às representações fragmentadas (porém organizadas) no cérebro, dependendo da associação das informações. Essa associação é dada pela experiência e realizada com base na similaridade, no posicionamento espacial, na sequência temporal, na coincidência têmporo-espacial ou em outros parâmetros.
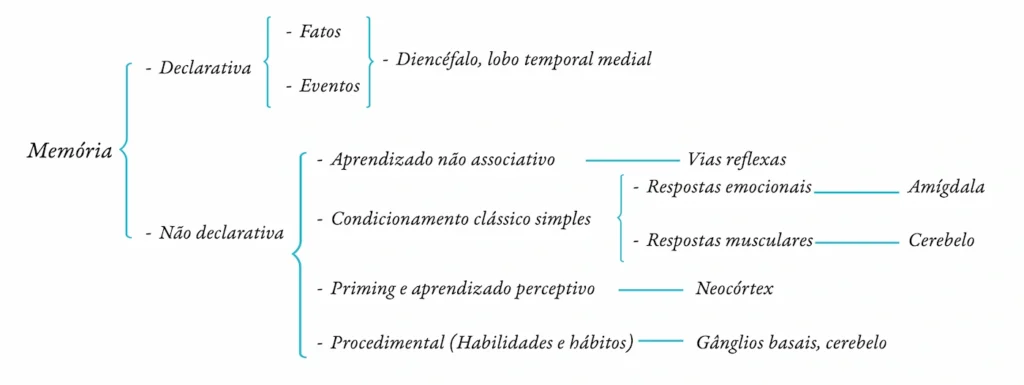
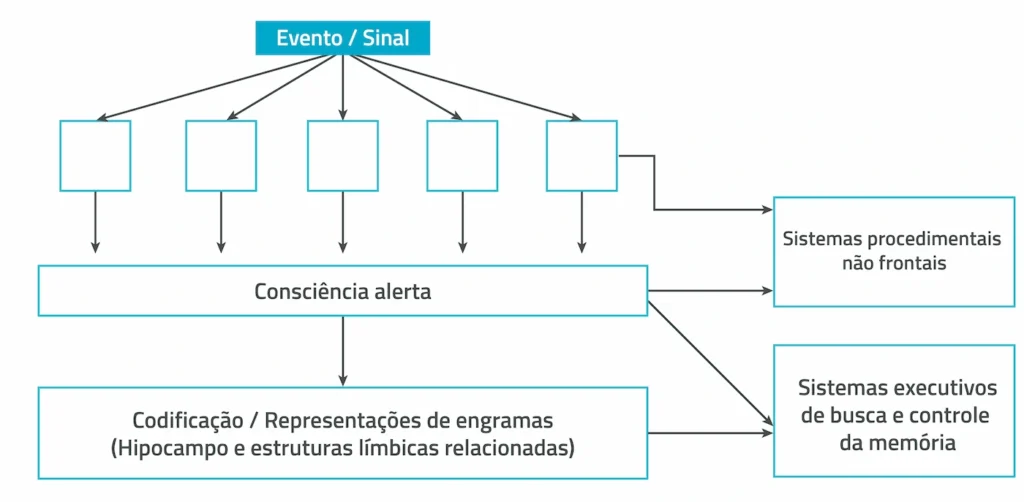
Processos
Os processos de memória são processos neuropsicológicos executados para aprender/codificar, armazenar ou recuperar informações e o fazem por, desde ou para os sistemas de memória. Dividem-se em:
- Processos de aquisição e armazenamento: implícito, associativo, procedimental, elaboração e processos construtivos.
- Processos de recuperação: ativação e fluência, familiaridade, busca associativa, recuperação construtiva e inferencial.
- Processos de esquecimento: declínio, interferência, inibição, distorções.
- Processos de consolidação e reconsolidação.
Sistemas funcionais da memória
A concepção que temos se aproxima da proposta de Damasio em sua teoria dos traços de memória e zonas de convergência, sendo semelhante.
As estruturas do lobo temporal são necessárias para arquivar informações declarativas e, por um tempo, para evocá-las. No entanto, as informações declarativas consolidadas acabam se tornando independentes do hipocampo, distribuindo-se ao longo de todo o córtex cerebral, dependendo de cada característica da informação que se codifica. Quando recordamos, fazemos várias áreas participarem. Em primeiro lugar, o hipocampo é o encarregado de implementar um algoritmo, que é um código de armazenamento de informações distribuídas. No modelo de Squire, a memória declarativa depende do hipocampo, e a memória não declarativa não. Nesse modelo, o córtex pré-frontal e o córtex parietal estariam envolvidos em processos de memória operacional; a memória procedimental, nos gânglios da base; o condicionamento instrumental, nos gânglios da base e no cerebelo; e o condicionamento clássico poderia depender de primig emocional, de tal forma que a ativação da amígdala desencadeia um processo rápido de recordação por associação.
Junqué (2009) apresenta um modelo anatômico na explicação da memória. Para que o processamento de informações persista na memória de longo prazo, as estruturas temporais mediais devem mediar o processo. Uma alteração nessa estrutura implicaria uma amnésia retrógrada. As projeções provenientes do córtex chegam ao córtex hipocampal e ao perirrinal, para posteriormente passar ao córtex entorrinal e a diversos locais da formação hipocampal (CA3 e CA1, giro denteado). Essa conectividade fornece a amplas áreas do córtex acesso ao hipocampo. A informação pode retornar ao neocórtex por meio do subículo e do córtex entorrinal.
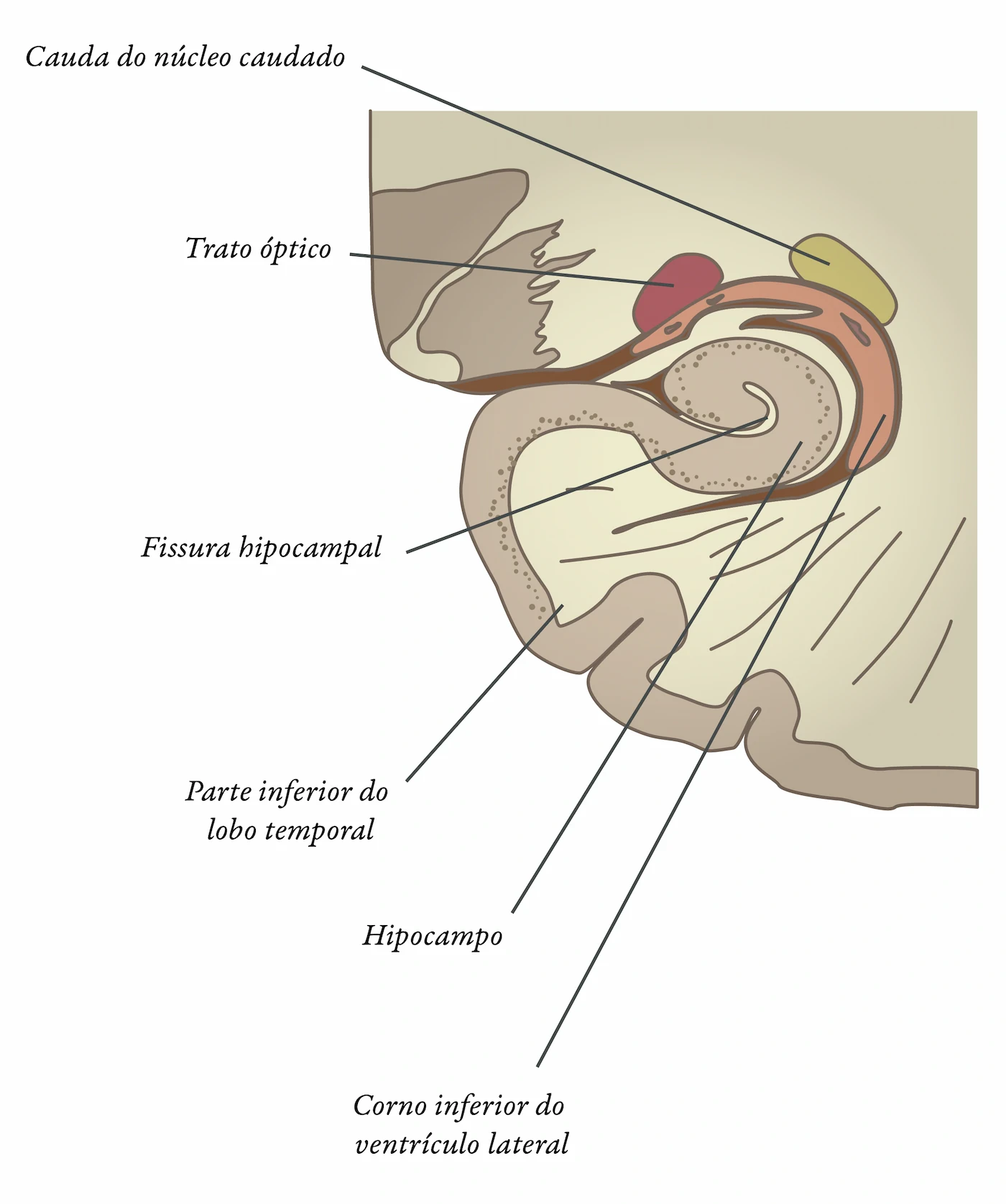
As informações processadas no lobo temporal medial também chegam a áreas críticas para a memória, no diencéfalo, e de lá, através do trato mamilotalâmico, chegam ao núcleo anterior do tálamo. O núcleo dorsomedial do tálamo e as projeções da amígdala recebem informação do córtex perirrinal.
O lobo pré-frontal é um alvo importante das estruturas diencefálicas e do lobo temporal medial. Os núcleos talâmicos anterior e dorsomedial projetam-se ao córtex frontal ventromedial e dorsolateral. Além disso, o córtex entorrinal e o subículo enviam projeções importantes ao córtex ventromedial.
As estruturas mediais do lobo temporal e do tálamo medial são componentes do sistema de memória essencial para a memória declarativa de longo prazo. Esse sistema é necessário na aprendizagem e por um período de tempo posterior, enquanto ocorre de forma lenta o processo de consolidação no córtex cerebral, possivelmente durante o sono.
A memória de curto prazo é independente desse sistema. Hábitos, habilidades, priming e algumas formas de condicionamento também são independentes das estruturas temporais mediais e do tálamo. A memória procedimental depende do sistema frontoparietal, do neoestriado e do cerebelo. O priming perceptivo depende das áreas cerebrais posteriores.
Princípios e técnicas para a reabilitação da memória
Princípios
As pessoas manipulam ativamente a informação, por isso é preciso adaptar as estratégias e os materiais.
Utilizar técnicas específicas para elaborar materiais de reabilitação requer o conhecimento de alguns princípios básicos sobre o treinamento em memória, que servem para melhorar, em cada sujeito, o processo de aquisição e recuperação das informações. Aplicar qualquer técnica em qualquer sujeito não é útil nem prático para o profissional. Primeiro, é necessário adaptar as estratégias e os materiais aos nossos sujeitos. Segundo Wilson (1989):
- O material deve ser simples, com pouca carga de informação – pelo menos nas etapas iniciais, acrescentamos –.
- As instruções devem ser claras e concisas.
- O sujeito deve compreender as instruções.
- O material deve ser adaptado, tanto na forma quanto na linguagem utilizada.
- Estabelecer associações entre elementos conhecidos (pessoas, músicas, contextos, datas, atividades) e os elementos a serem aprendidos.
Na NeuronUP seguimos o princípio dos níveis de processamento de Lockhart (1972): o sujeito deve manipular e não ser um receptor passivo da aprendizagem. Elaborar material significativo ligado a situações do cotidiano também se adequa aos postulados dos níveis de processamento.
Técnicas
Por um lado, há o treinamento em estratégias internas de memória; por outro, há as adaptações e ajudas externas. As atividades que elaboramos se baseiam em ambas as realidades, mas têm um tratamento diferente dependendo do tipo de atividade ou da utilidade que se pretende desenvolver.
Treinamento em estratégias internas de codificação, armazenamento e recuperação
Verbais
- Organização (estratégias de codificação como fazer grupos de categorias ou fonéticas – menos efetivas –). Adaptar os estímulos ao paciente.
- Associação. Dar um contexto semântico à informação processada, formar histórias, rimas, canções (processamento auditivo), associação contextual etc.
- Acrônimos (iniciais de nomes ou coisas que formam outras palavras) e mnemotécnicas.
- Aprendizagem sem erros.
- Recuperação espaçada (Landauer e Bjork, 1978) com prática distribuída (Baddeley, 1999).
- Repetição.
- Aprendizagem sem erros.
- Tentativa e erro.
Visuais
- Visualização: pares associados para criar imagens. Palavras e desenhos. Geração de estratégias visuais para recuperação de memória.
- Técnica dos locais (Loci).
Adaptações do ambiente e ajudas externas
São medidas destinadas a estabelecer adaptações no meio ambiente, de modo a diminuir as demandas de memória até um nível mais gerenciável.
- Treinamento no uso de etiquetas com imagens, cores e nomes.
- Medidas que facilitam o acesso à informação armazenada previamente: alarmes, temporizadores.
- Registro das informações: gravadores ou agendas. Elaboração de materiais de suporte nos quais se possa acessar facilmente conteúdos significativos.
- Às vezes, o uso dessas estratégias implica educar o ambiente próximo do paciente.
As principais características desse tipo de adaptação são:
- Ativas, oportunas (no momento em que devem aparecer) e específicas (comandos simples).
- Fácil generalização.
- Mais simples do que as estratégias internas: precisamos liberar a memória do paciente.
- Muito úteis em pacientes mais graves.
- São mais eficazes quando os pacientes, apesar dos problemas de memória, apresentam:
- Inteligência média ou superior.
- Raciocínio.
- Consciência dos déficits.
- Habilidades para iniciar uma conduta.
Treinamento no uso de uma agenda
Sohlberg & Mateer (1989) propõem usos para uma agenda que abarcam, entre outros: orientação (informações autobiográficas), memória (atividades a realizar), calendário, tarefas, transporte, nomes de pessoas conhecidas, atividades laborais, mapas.
As fases do treinamento no uso de uma agenda são:
- Aquisição: aprender as seções, objetivos e uso do livro.
- Aplicação: onde e quando usar a agenda.
- Adaptação: demonstração do uso adequado em diferentes contextos.
Schmitter, Edgecombe, Fahy, Whelan e Long (1995) propõem o uso da agenda pessoal, entre outros, como apoio para os seguintes aspectos: Notas pessoais (informação autobiográfica), Diário, Calendário, Nomes, Atividades laborais. Segundo esses autores, as fases do treinamento no uso de agendas são:
- Antecipação: identificar os déficits de memória e demonstrar a necessidade de auxílios externos.
- Aquisição: ensinar o objetivo de cada seção.
- Aplicação: como fazer as anotações.
Linguagem
A linguagem é a habilidade de elaborar e comunicar processos do pensamento por meio da execução motora de um sistema de gestos (comunicação não verbal), símbolos (escrita e leitura) e sons (fala). É um fenômeno que requer a coordenação de uma rede neuronal distribuída, com áreas que variam quanto à sua especificidade funcional. Embora o hemisfério esquerdo (em destros) seja o que apresenta maior dominância, as funções do hemisfério direito também podem produzir alterações na linguagem, como a prosódia ou a detecção de intencionalidade (ironias). A lesão em cada um dos nodos necessários a um funcionamento competente pode produzir alterações em um aspecto específico do processo linguístico, que podem ocorrer em:
- Codificação
- Produção (articulação, execução, modulação)
- Compreensão
- Denominação
- Contextualização
- Motivação
Os quatro níveis em que a linguagem pode ser afetada são: sintático, semântico, fonológico e morfológico.
Alterações da linguagem
O objetivo deste documento não é realizar uma classificação exaustiva dessas alterações. Para uma classificação ampla dos diferentes transtornos da comunicação (excluindo transtornos do espectro do autismo), consultar Junqué e Barroso (2009) ou Martinell Gispert-Sauch (2012). A seguir, definimos os principais déficits abordados na linguagem:
- Afasia: perda ou alteração da linguagem em consequência de uma lesão cerebral adquirida. Há deterioração na produção e compreensão linguística; a gravidade do transtorno em cada área varia. A alteração fundamental ocorre no processamento linguístico. Não é um problema perceptivo ou motor. Tampouco é uma alteração dos processos do pensamento. Ocorre quando a lesão afeta a rede neural que permite transformar as imagens ou pensamentos internos em símbolos e estruturas linguísticas apropriadas ou impede que palavras ouvidas, ou texto escrito, sejam convertidos em ideias e pensamento não verbal.
- Alexia: alteração na leitura que surge como consequência de uma lesão cerebral em sujeitos que já haviam adquirido a leitura. Dessa forma, diferencia-se dos transtornos durante a aquisição da leitura, as dislexias.
- Agrafia: perda da capacidade de produzir linguagem escrita devido a lesão cerebral. Na maioria dos pacientes afásicos, o comprometimento da escrita apresenta características semelhantes ao da expressão oral.
- Aprosodia: são transtornos de linguagem que afetam a entonação, a melodia, as pausas, a acentuação e a ênfase. São de três tipos: hiperprosodia (uso excessivo da prosódia), disprosodia (ou prosódia atáxica, alteração na qualidade da voz que pode levar a um “sotaque estrangeiro”; conserva-se como resultado da recuperação após afasia não fluente) e aprosodia (limitação na capacidade de modular a entonação).
Classificação de funções da linguagem
Seguimos parcialmente a classificação de funções da linguagem de Lezak (2004).
Leitura
Capacidade de identificar e transformar símbolos escritos – em um código – em representações internas. Implica a discriminação de símbolos e palavras, sua associação fonética, e a compreensão de esquemas de relação gramaticais (fonemas, palavras, frases, parágrafos e textos) na linguagem escrita. Não implica compreensão, nem se inclui em Repetição ou Linguagem Espontânea quando a linguagem falada é uma leitura em voz alta. Tampouco é agnosia de forma (o sujeito é capaz de identificar duas letras ou números iguais).
Escrita
Capacidade de produzir linguagem escrita, que não implica compreensão. Existem três variantes principais: cópia de textos, palavras ou textos sob ditado, ou escrita espontânea.
Compreensão
Capacidade de compreender o significado semântico ao combinar símbolos (escritos) ou fonemas (linguagem falada) em estruturas gramaticais (palavras, frases, textos, orações etc.). A compreensão não implica fórmulas linguísticas – ironias, duplos sentidos etc. –, nem os significados alternativos da mensagem (que requerem Abstração, como o significado de provérbios). Tampouco implica a prosódia ou o tom emocional do discurso.
Denominação
Capacidade de nomear e/ou identificar objetos, pessoas ou fatos mostrados por confrontação visual (desenhos ou fotografias) ou verbal (definições). A alteração dessa capacidade pode surgir como consequência da destruição total ou parcial do armazém semântico, ou por uma alteração na capacidade de busca do termo (por exemplo, em condutas de aproximação linguística). Não se incluem anomias que se devam a problemas na compreensão, na produção de linguagem ou a falhas no reconhecimento.
Vocabulário
Quantidade de informação relativa a palavras no armazém semântico (quantidade de palavras que o sujeito possui).
Repetição
Capacidade de transformar fonemas e ativar as representações e engramas motores da linguagem para produzir os mesmos sons que o sujeito escuta. Podem ser sons vocais ou não vocais.
Fluência
Capacidade de produzir de maneira rápida e eficaz a linguagem (escrita e verbal). Essa produção depende de duas estratégias principais: uma busca semântica (fluência semântica) ou fonética (fluência fonética). Envolve a preservação do armazém semântico, assim como das representações da via fonológica da linguagem. Também implica flexibilidade. Pode ter três formas: fluência falada (espontânea ou não), fluência escrita ou fluência de leitura. Não consideramos a fluência como uma medida principal de velocidade de processamento (por isso excluímos a leitura), mas sim de velocidade de produção. Tampouco a incluímos como uma medida de produção de linguagem espontânea complexa (nesse caso, está incluída na seção de Discurso espontâneo), mas sim de palavras.
Discriminação
Capacidade de reconhecer diferentes frequências, intensidades e entonações que nos ajudam a identificar fonemas, frases ou palavras idênticas – sempre como resultado de um processo linguístico – sem a necessidade de compreendê-las.
Modelos anatômico-funcionais da linguagem
Modelo de Damasio e Damasio. Existem 3 grandes sistemas cerebrais:
- Sistema de representação de conceitos: ativa os conceitos associados ao registro das palavras. Depende de numerosas zonas corticais, de diferentes hierarquias e modalidades que se distribuem na área parietal, temporal e frontal, de forma bidirecional (fascículo arqueado).
- Sistema linguístico de representação (fonemas, palavras e regras sintáticas de combinação): localizado no hemisfério esquerdo. O sistema perissilviano anterior é responsável pela organização fonêmica das palavras e pela combinação das palavras em frases. O sistema perissilviano posterior contém registros auditivos e cinestésicos dos fonemas e das sequências fonêmicas que compõem as palavras. Nesse sistema, inicia-se a compreensão, embora dependa do acesso às zonas de representação e associação.
- Sistema intermediário: córtex temporal esquerdo, fora das áreas clássicas da linguagem. É intermediário entre os dois sistemas anteriores e está envolvido na recuperação lexical. Também participa do acesso a nomes de pessoas, coisas, animais etc.
Os autores enfatizam a participação neste sistema linguístico de outras áreas: os gânglios da base e o tálamo, a área motora suplementar e o giro do cíngulo anterior (córtex frontal medial), envolvidos na iniciação e manutenção da fala; e o hemisfério direito, envolvido em automatismos verbais, aspectos narrativos e discursivos, bem como na prosódia.
Além do modelo de Damasio e Damasio, baseamo-nos no modelo de Marcel Mesulam. Para um modelo cognitivo da linguagem, pode-se consultar o modelo de Ellis e Young (1992).
Técnicas para a reabilitação da linguagem
As intervenções na linguagem devem envolver diferentes módulos cognitivos e a intervenção multidisciplinar.
A linguagem depende de e sustenta outras funções cognitivas. Por isso, uma reabilitação da linguagem deve apoiar-se em processos e funções preservados, ao mesmo tempo em que adapta o tratamento de forma individualizada. É necessário considerar que as intervenções na linguagem devem abranger diferentes módulos cognitivos e, em alguns casos, um treinamento neuromuscular, de modo que uma intervenção multidisciplinar seja fundamental para melhorias significativas. Além disso, déficits na linguagem produzem isolamento social, por isso integrar a intervenção na comunidade é necessário, sem esquecer as estratégias de comunicação funcional.
A intervenção deve ser funcional, mas também focada nos déficits específicos de processamento, de modo que os materiais devem responder a ambas as demandas: em alguns casos, devem concentrar-se em situações e atividades da vida diária, mas combinando esses exercícios com aspectos básicos do processamento linguístico, em outros casos. Temas familiares ou do cotidiano costumam ser muito úteis na reabilitação da linguagem, além de serem motivadores.
As principais técnicas de reabilitação da linguagem podem ser divididas, segundo Cuetos (1998), em:
- Voltadas para recuperar a função: facilitação com pistas, reaprendizagem, reorganização baseada em funções preservadas.
- Compensatórias: comunicações alternativas e estratégias de processamento da linguagem.
Elaboramos materiais baseados em diferentes etapas do processamento da linguagem. Desde a conscientização do processamento da linguagem em níveis de percepção básica (discriminação de letras) até a elaboração metacognitiva do discurso.
- Treinamento gradual da articulação por meio de exemplos auditivos.
- Discriminação auditiva.
- Associação letra-fonema e palavra-imagem.
- Tarefas de decisão lexical.
- Julgamentos fonológicos.
- Treinamento em rimas.
- Identificação de palavras lexicais.
- Elaboração e identificação de definições.
- Associação entre palavras.
- Discriminação entre palavras foneticamente semelhantes.
- Exercícios de articulação de palavras (sílabas e letras).
- Modulação da prosódia mediante feedback externo da onda fonológica.
- Generalização de palavras repetidas.
- Análise de temáticas de conversação.
- Ordenação de orações.
- Aquisição gradual de vocabulário.
- Emparelhamento verbo-ação-resultado.
- Análise de textos.
- Produção de textos.
- Identificação de partículas da oração.
- Repetição por aproximação.
- Definições funcionais das palavras.
- Treinamento em turnos de conversação.
Para a realização dessas atividades, colocam-se à disposição do usuário utilitários e ferramentas que o terapeuta pode personalizar na reabilitação.
Funções executivas
As funções executivas são um constructo teórico que abrange processos de controle cognitivo, emocional e comportamental.
Não há uma definição consensual de funções executivas. Apresentamos algumas das existentes. Consideram-se funções executivas (FE) os processos cognitivos ou capacidades que controlam e regulam o pensamento e a ação (Friedman et al., 2006). Lezak (1999) define as funções executivas como as capacidades mentais essenciais para realizar um comportamento eficaz, criativo e socialmente aceito. De acordo com essa autora, essas funções executivas podem se agrupar em torno de uma série de componentes: as capacidades necessárias para formular metas (motivação, consciência de si mesmo e modo como percebe sua relação com o mundo), as faculdades empregadas no planejamento dos processos e estratégias para atingir os objetivos (capacidade de adotar uma postura abstrata – Abstração –, avaliar as diferentes possibilidades – Tomada de decisões – e desenvolver um arcabouço conceitual que permita direcionar a atividade – Raciocínio), as habilidades envolvidas na execução de planos (capacidade de iniciar, prosseguir e interromper sequências complexas de comportamentos de maneira ordenada e integrada) e as aptidões para realizar essas atividades de forma eficaz (controlar, corrigir e autorregular o tempo – estimativas temporais –, a intensidade e outros aspectos qualitativos da execução – como Execução Dual e Branching ou Multitarefas).
Segundo a definição de Banich (2004), o objetivo principal das funções executivas é a coordenação intencional, proposital e coordenada do comportamento. Elas até já foram consideradas como um constructo que engloba uma série de processos de controle do pensamento, das emoções e do comportamento. Alguns autores consideram que elas são um sistema supramodal de processamento múltiplo que apresenta elevada correlação com a inteligência (Tirapu-Ustárroz e Luna-Lario, 2009).
Para Verdejo García e Bechara (2010), as funções executivas são habilidades de ordem superior implicadas na geração, regulação, execução efetiva e reajuste de condutas dirigidas a objetivos. Constituem mecanismos de integração intermodal e intertemporal, que permitem projetar cognições e emoções do passado para o futuro a fim de encontrar a melhor solução para situações novas e complexas (Fuster, 2004).
Miyake et al. (2000), por meio de um modelo de equações estruturais, encontraram que as funções executivas podem ser divididas em três variáveis latentes:
- Alternância: relacionada à capacidade de mudar o conjunto atencional. Essa variável permite que a pessoa “desengate” sua atenção de tarefas irrelevantes e a mantenha em tarefas relevantes. Essa variável está incluída em Atenção alternada.
- Atualização: capacidade de atualizar e monitorar as representações na memória. Refere-se tanto à atualização de conteúdo, entendida como a inserção e a remoção de informações na memória de curto prazo, como à manipulação do conteúdo na memória. Por isso, pode-se considerar a dimensão Atualização como a mais próxima da Memória de Trabalho.
- Inibição: diz respeito à inibição de respostas dominantes e à capacidade de ignorar informações irrelevantes.
Memória de trabalho
A memória de trabalho é um espaço de trabalho mental que pode ser usado de forma flexível para realizar atividades cognitivas que requerem processamento, recuperação, armazenamento e tomada de decisão. Sua capacidade de armazenamento é limitada, e qualquer sobrecarga em alguma dimensão implica perda de informação em uma tarefa contínua. (Gathercole & Alloway, 2006).
A memória de trabalho é sustentada por uma série de recursos atencionais limitados. Baddeley propõe uma estrutura composta por múltiplos subsistemas: um executivo central e três subsistemas “escravos” (Tulving, 1999): o buffer fonológico, o esboço visoespacial e o buffer episódico – embora inicialmente ele tenha proposto apenas dois, deixando de fora o buffer episódico.
O executivo central é um sistema de supervisão atencional de duração limitada que coordena os sistemas “escravos”, manipula conteúdos e os atualiza.
O buffer fonológico mantém a recuperação, o armazenamento temporário e o ensaio das representações fonológicas, enquanto o esboço visoespacial realiza funções análogas para as representações visuais de estímulos e sua posição no espaço.
O buffer fonológico/laço articulatório possui dois componentes: um armazenamento de curto prazo que mantém as representações fonológicas e está sujeito a uma rápida extinção, e um processo de ensaio subvocal que atua para atualizar e manter as representações do armazenamento de curto prazo do laço que vão se esvaindo com o tempo.
O esboço visoespacial é um sistema especializado para o armazenamento temporário visoespacial.
O buffer episódico integra a informação da Memória de Trabalho e da Memória de longo prazo em representações multimodais.
Baddeley propõe uma Memória de Trabalho que é multimodal em relação ao tipo de informação que manipula e integra, com processos de manutenção, supressão e monitoramento autônomos (o que implica certa independência de outras instâncias de memória).
Modelos explicativos das funções executivas
Modelos formais
Entre os modelos formais que buscam explicar as funções executivas, podemos encontrar diversas propostas (García Verdejo e Bechara, 2010):
- Modelos de processamento múltiplo baseados na noção de modulação hierárquica de cima para baixo (“top-down”),
- Modelos de integração temporal orientada para a ação, relacionados com o constructo de memória de trabalho,
- Modelos que postulam que as funções executivas contêm representações específicas ligadas a sequências de ação orientadas para objetivos, e
- Modelos que abordam aspectos específicos do funcionamento executivo que não são considerados pelos modelos anteriores.
Quanto à abordagem que adotamos, aproximamo-nos do terceiro grupo de modelos, sem negar a evidência de que são um ponto de vista principal, mas complementar aos demais.
Modelos neuroanatômicos: os lobos frontais
O lobo frontal é uma classificação teórica que serve para definir uma área do cérebro especializada em funções cognitivas de nível superior.
O lobo frontal é uma classificação teórica que serve para definir uma área do cérebro especializada em funções superiores e caracterizada por uma localização espacial com estrutura citoarquitetônica singular. É uma estrutura teórica porque o cérebro funciona de maneira global. A classificação nos dá uma ideia aproximada da especificidade funcional.
O lobo frontal ocupa um espaço delimitado. Posteriormente, seu limite é definido pelo sulco central. O limite dos lobos frontais na parte inferior é a fissura de Sylvius ou fissura lateral. O sulco do cíngulo, logo acima do corpo caloso, delimitaria a parte medial. Funcionalmente, podemos admitir uma hierarquia de controle e de conteúdos. Se estabelecermos um eixo anteroposterior, os conteúdos do lobo frontal conteriam as representações mais abstratas, sendo os encarregados de exercer maior controle sobre conteúdos concretos, monitorando-os e integrando as informações em conteúdos mais complexos. Também estabelecem estratégias de controle e guias de condutas complexas.
O lobo frontal contém comandos complexos do ponto de vista cognitivo, embora não se deva interpretar isso como a defesa de um compartimento estanque.
Em relação às conexões, o lobo frontal recebe dois tipos de conexões: córtico-corticais, que são associações com outras áreas do córtex; e córtico-límbicas, aquelas que ocorrem entre centros límbicos e sublímbicos. Em relação às conexões córtico-corticais, o córtex frontal, especialmente o pré-frontal, contém um grande número de conexões internas. Dessa forma, funcionalmente, o córtex pré-frontal é subdividido em várias regiões: uma dorsal, com conexões com centros motores e espaciais corticais; uma medial, com conexões indiretas para o lobo parietal; e uma ventral ou inferior, com conexões diretas para o córtex do cíngulo e para centros emocionais e de memória.
Há várias classificações anatômico-funcionais do lobo frontal. Uma definição aceitável é a que separa o sistema pré-frontal dos córtices motores e pré-motores. Stern e Prohaska (1966) descrevem três áreas diferenciadas no sistema pré-frontal: dorsolateral, orbital e medial. Embora nesta exposição incluamos a orbital e a medial como um único sistema, o sistema ventromedial.
- O sistema dorsolateral envolve principalmente as áreas 9, 9/46 e 46, e faz parte de um extenso circuito que inclui o córtex parietal posterior, o núcleo caudado e conexões com o núcleo talâmico caudado dorsolateral. Esse sistema seria responsável por monitorar a atenção, possivelmente por meio da manutenção da memória de trabalho, da memória e da atenção espaciais. No entanto, a função mais importante desse sistema é a integração de processos cognitivos complexos envolvidos no planejamento e controle da conduta.
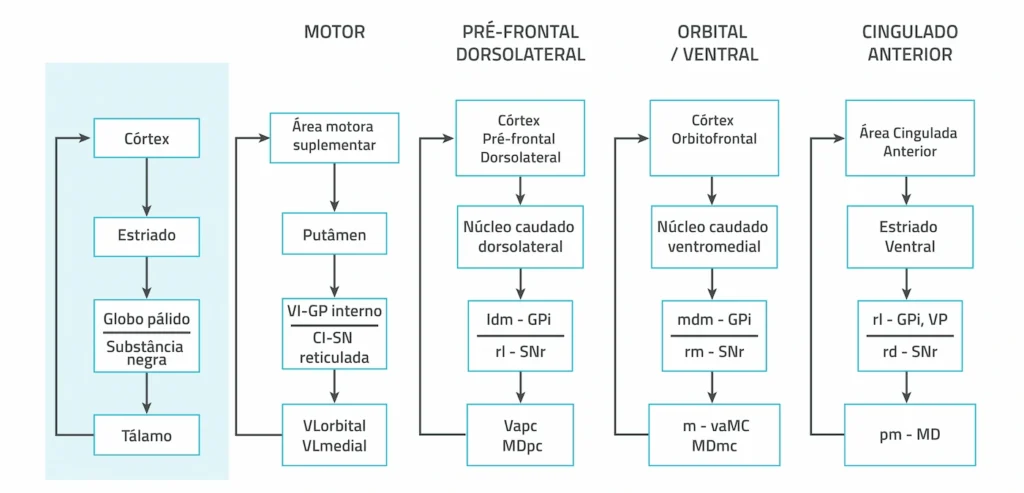
- O sistema ventromedial estaria integrado em uma rede principal denominada sistema paralímbico. Além do córtex orbitofrontal, esse sistema é composto pelo giro do cíngulo, pelo córtex parahipocampal, polo temporal, ínsula e amígdala. É um sistema envolvido em processos emocionais e motivacionais, motivo pelo qual devemos ter em mente que a memória abrange todas as informações relacionadas às aprendizagens que modulam os múltiplos aspectos que compõem a personalidade. Alguns autores propuseram que ambos os sistemas confluem na área 10 de Brodmann (região pré-frontal medial ou frontopolar), sendo esta uma área especializada na coordenação de processos complexos que envolvem representações cognitivas e emocionais muito abstratas. A área 10 (zona mais rostral do cérebro) seria uma zona pré-frontal de máxima integração, modulação e coordenação que administra os conteúdos mais reflexivos que orientam a conduta. A área 10 teria conexões diretas com as áreas pré-frontais, mas poucas conexões com outras zonas frontais, além de não apresentar conexão direta com os lobos parietal, occipital ou temporal. É, portanto, um sistema de aferência de informações e de controle do restante dos processos que compreendem reflexão e controle não orientado por estímulos.
Além do já mencionado, para mais informações sobre a extensa rede neural envolvida no funcionamento executivo, é recomendável consultar Dosembach et al. (2008), onde se explicam a rede de modo padrão (default mode network) e a rede de trabalho.
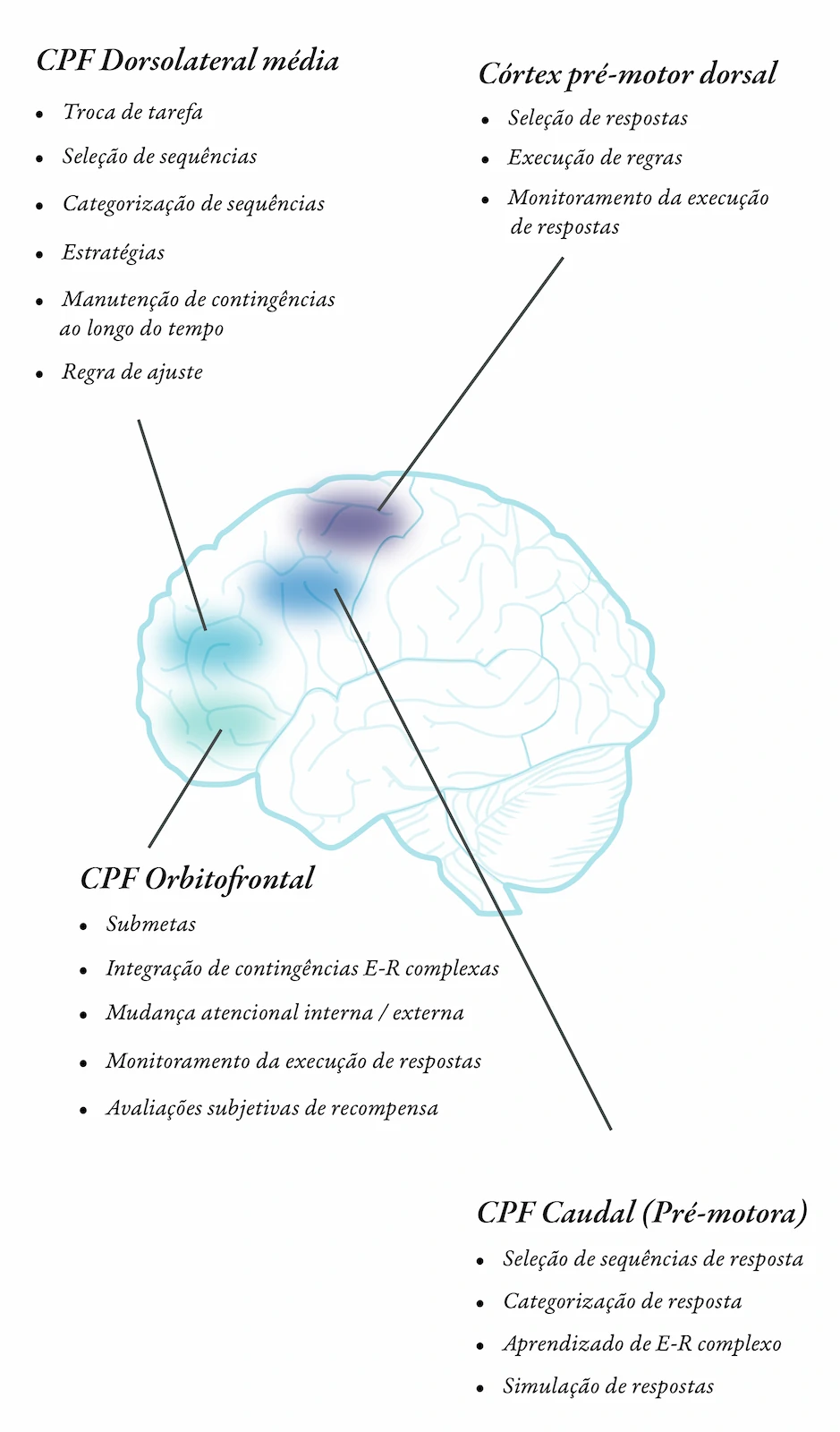
Reabilitação das funções executivas
As funções executivas têm grande relevância na reabilitação porque são muito sensíveis ao dano cerebral adquirido e fundamentais para a realização de atividades da vida diária, pois são as responsáveis por gerir as funções preservadas. Ressaltamos, portanto, que são funções cujo déficit impacta diretamente a independência dos indivíduos, ainda que estes mantenham intactas as demais funções.
A reabilitação das funções executivas deve ser a mais ecológica possível. Na prática, consideramos que o(a) terapeuta atua no início do processo de reabilitação como um mecanismo de controle externo das atividades que a pessoa realiza. Aos poucos, esse controle é transferido para o sujeito, à medida que suas capacidades melhoram. Se isso não for possível, treinamos estratégias de apoio com ajudas externas. Entre os modelos possíveis, além do modelo de reabilitação em funções executivas de Sohlberg e Mateer (2001), propomos nos materiais uma abordagem metacognitiva para a realização de atividades da vida diária.
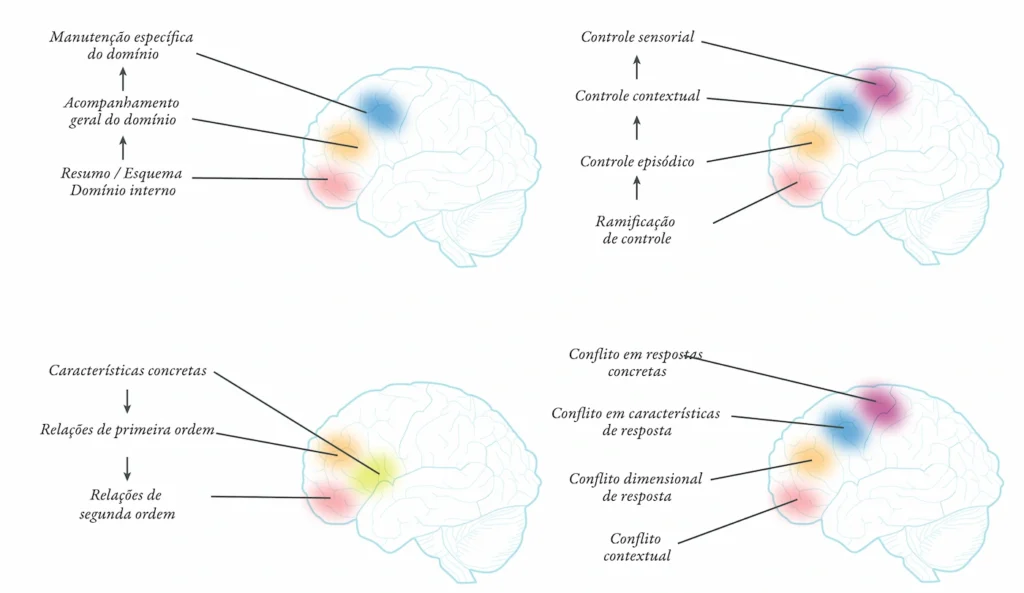
Como devem ser as técnicas de instrução em condutas funcionais?
Métodos sistemáticos:
- Sinais que desaparecem.
- Aprendizagem sem erro:
- Componentes mínimos.
- Modelos pré e ensaio.
- Não questionar decisões.
- Correção imediata.
- Prática distribuída.
- Instruções (estratégia).
Métodos não sistemáticos:
Ensaiar-errando + esforço.
Sociais/Grupais:
- Treinamento em habilidades sociais
- Observação de pessoas competentes
- Uso de papéis (role-playing)
- Práticas educativas na comunidade
- Etc.
Algumas instruções explícitas e diretas:
- Análise da tarefa
- Aprendizagem sem erro
- Acúmulo de revisões de execução
- Prática
- Estratégias metacognitivas
Para Ehlhardt, Sohlberg, Glang e Albin (2005), o mais eficaz é estabelecer uma instrução direta e baseada em estratégias metacognitivas. Isso permite um treinamento no controle da autorregulação.
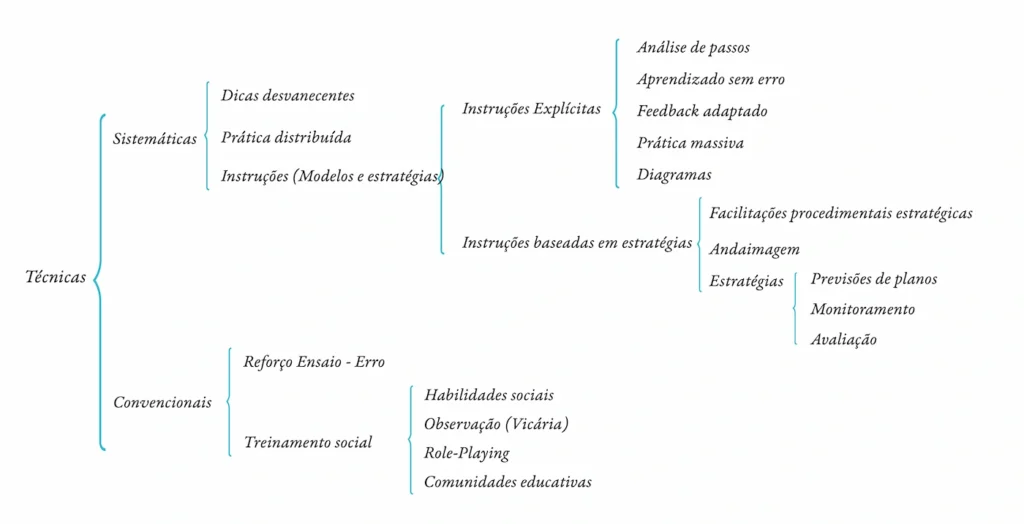
Modelos de instrução
Modelos sistemáticos de instrução explícita (técnicas)
Instrução direta
- Análise passo a passo (sequências)
- Modelagem: sem erro ou com orientação
- Feedback maciço
- Prática maciça: maciça, mista e espaçada
- Diagramas de ação distribuída
- Observação de modelos
Modelos de estratégias cognitivas na instrução (objetivo: monitorar o pensamento)
- Facilitadores do processo
- Método “Scaffolded”
- Estratégias metacognitivas
- Estima (habilidades)
- Processos de automonitoramento e controle (comparação)
- Atribuições
- Análise de problemas
- Treinamento em expectativas
- Sequências de autoinstrução
- Autorregulação verbal
Design de instruções (Sohlberg, Ehlhardt, & Kennedy, 2005)
- Analisar o conteúdo para detalhar as “grandes ideias”, conceitos, regras e estratégias generalizáveis.
- Determinar habilidades necessárias e pré-requisitos.
- Sequenciar as competências, das mais simples às mais complexas.
- Desenvolver a análise das tarefas.
- Desenvolver e sequenciar uma ampla gama de exemplos de treinamento para facilitar a generalização.
- Desenvolver instruções simples e consistentes com linguagem clara e roteirizá-las para reduzir confusão e focar o aprendiz no conteúdo relevante.
- Estabelecer claramente os objetivos de aprendizagem.
- Estabelecer os critérios de alcance de metas.
- Fornecer modelos e, gradualmente, diminuir as pistas e avisos para facilitar a aprendizagem sem erro.
- Pré-correção por meio da instrução das capacidades pré-requeridas na tarefa em primeiro lugar ou isolando os passos mais difíceis da instrução.
- Fornecer feedback consistente e rápido (dar o “modelo correto” imediatamente se o paciente cometer um erro).
- Fornecer grandes quantidades de prática correta massiva, seguida de prática distribuída.
- Fornecer revisão suficiente e cumulativa (integração de material novo e antigo).
- Individualizar a instrução (linguagem, ritmo, tempo, capacidades…).
- Avaliar progressivamente a conduta para verificar a evolução da função.
O modelo combinado (instrução direta e instrução programada) produz os melhores resultados. Em seguida vem a estratégia de instruções, a instrução direta e, depois, as instruções não diretas (como o treinamento social ou tentativa e erro).
Quais instruções produzem o melhor efeito?
- Prática explícita: prática e revisão espaçada, prática repetida, revisão sequenciada, feedback diário e revisões diárias.
- Orientação para as tarefas/organizadores avançados: estabelecimento dos objetivos de instrução, revisão de materiais antes da instrução, instrução na atenção a informações específicas, fornecer informações prévias sobre a tarefa.
- Apresentação de novo material para aprendizagem: diagramas, representações mentais, currículo na tarefa, informações sobre execuções anteriores relacionadas.
- Modelagem de etapas para concluir a tarefa.
- Sequenciamento.
- Investigação/validação sistemática e reforço: uso de validações e feedback contínuo.
Aprendizagem sem erro
Objetivo: eliminar erros durante a fase de aprendizagem por meio de:
- Fragmentar a atividade em passos ou unidades discretas e pequenas.
- Fornecer modelos suficientes antes que o cliente realize a tarefa solicitada.
- Instruir o cliente para que evite se perguntar sobre as causas ou razões da conduta.
- Corrigir o erro imediatamente.
- Desvanecer as pistas cuidadosamente.
A aprendizagem sem erro costuma ser aplicada em pessoas com memória processual alterada e perda de memória declarativa. A aprendizagem com erro (por exemplo, por tentativa e erro ou por aprendizado por descoberta) consiste em incentivar o paciente a se questionar sobre a resposta-alvo antes de receber a informação correta. As possíveis aplicações (segundo Barbara Wilson) em Atividades de Vida Diária são:
- Associação rosto-nome.
- Programação de agenda eletrônica.
- Memória de números de telefone.
Condições que melhoram a aprendizagem sem erro
- Grandes quantidades de prática correta. Quando o paciente executa uma conduta corretamente, se lhe é dada a oportunidade de repeti-la várias vezes. O inverso também é verdadeiro. —Isso não implica generalização ou manutenção, apenas a execução.
- Prática distribuída – e recordação espaçada.
- Usar encadeamento direto e reverso. O encadeamento é usado em técnicas de múltiplas etapas para melhorar a recordação de padrões complexos. Pode ser feito de modo “direto” (começando pelo primeiro passo) ou “reverso” (começando pelo último passo). Uma forma de encadeamento progressivo é a técnica de pistas desvanecidas (vanishing cues). Esse método também pode ser direto (desaparecimento de pistas) ou reverso (adição de pistas).
- Processamento com esforço (“profundo”) e autogeração. Processar de forma profunda favorece o traço mnésico, mas não está livre de erros, então é preciso ajustar. A autogeração se refere a pistas ou chaves autogeradas pelo sujeito e não pelo terapeuta (por exemplo, perguntas elaboradas pelo terapeuta vs. perguntas geradas pelo cliente sobre fatores relevantes – p. ex. sobre um rosto).
- Que a técnica seja aplicada durante a fase de aquisição.
- A técnica de reflexão-predição (metacognitiva) pode ser útil para gerar um processamento ativo do material ou para gerar novas estratégias.
Métodos Scaffolded (“andaime”)
É um método metacognitivo no qual:
- O feedback deve manter o foco na tarefa.
- O treinamento deve acontecer para situações ambíguas, por exemplo em habilidades sociais (administração da ambiguidade e planejamento).
O método de andaime consiste em representações mentais ou de conhecimento que estabelecem relações entre termos, como diagramas, resumos e representação de resultados (reais ou estimados). Melhora a eficiência instrucional (que é a relação entre o esforço mental – recursos mobilizados pela demanda executiva da tarefa – e a execução na tarefa em uma condição de aprendizagem). Ele se baseia em dois aspectos:
- Um processamento duplo (Paivio). Essa teoria não ocorre sempre, mas sim em tarefas de transferência que demandam integração de informações. Oferece uma representação física da realidade mental com representação física e semântica.
- Redução da quantidade de informação na memória de trabalho. Os modelos mentais permitem reduzir a carga cognitiva associada a tarefas complexas, já que tornam as relações entre os componentes estruturais mais claras e eficientes.
Cuevas, Fiore e Oser (2002) propõem um modelo de metacompreensão (um aspecto da metacognição). Há vários aspectos que correlacionam metacognição e a habilidade de transferir conhecimentos e aprendizagens.
Além da classificação proposta, queremos destacar um programa que foi um dos precursores na reabilitação das funções executivas e que serviu de modelo para algumas das atividades que desenvolvemos.
TEACH-M (Ehlhardt, Sohlberg, Glang, Albin; 2005)
- Análise da tarefa: Dividir a tarefa em passos pequenos. Encadear os passos necessários.
- Aprendizagem sem erro: Manter os erros no mínimo durante a fase de aquisição. Ir reduzindo as ajudas gradualmente.
- Avaliar a execução: As habilidades antes da tarefa (pré-requisitos). Execução. Avaliar sempre que um novo passo é introduzido.
- Revisão cumulativa: avaliar regularmente habilidades prévias.
- Aumentar a média de tentativas corretas.
- Treinamento em estratégias metacognitivas: Usar a técnica de predição para construir material significativo.
Outras características:
- Pré-exposição a estímulos que serão usados.
- Capturas de tela que reflitam a execução.
- Prática orientada com múltiplas oportunidades.
- Recordação espaçada.
- Exemplos de treinamento variados.
- Treinamentos com critérios estabelecidos e sempre presentes.
Cognição social
A cognição social depende de vários níveis de processamento, que diferem em complexidade e na inter-relação dos componentes.
A cognição social é um processo neurocognitivo que envolve o contexto psicossocial. Fenômenos sociais (reais ou imaginados) são percebidos, reconhecidos e avaliados com o objetivo de construir uma representação do ambiente e de seus constituintes (pessoas, objetos, eventos sociais), no qual indivíduos interagem por meio de comportamentos sociais. Por meio da cognição social, buscamos desenvolver as respostas mais adequadas, a fim de nos adaptarmos ao ambiente. A cognição social está relacionada a uma série de conceitos que incluem desde a percepção emocional até estudos de atribuição ou a teoria da mente (como explicamos o comportamento dos outros e que tipo de expectativas temos sobre eles, com base em seus estilos cognitivos) (Sánchez Cubillo, 2011).
Baseamo-nos no modelo da via de processamento socioemocional de Oschner (2008). A cognição social seria um processo multifatorial que depende de vários níveis de funcionamento. Esses níveis se diferenciam em termos de inter-relação de componentes e de complexidade. Esses mecanismos são distribuídos no cérebro, pois há mecanismos de percepção, reconhecimento e avaliação envolvidos. Os conteúdos processados por esses mecanismos são usados para construir as representações do ambiente social.
A cognição social envolve as funções executivas “frias” (responsáveis pelos conteúdos neuropsicológicos que não contêm sinais emocionais) e as funções executivas “quentes” (que implicam o manuseio de conteúdos emocionais avaliativos). Emoção e cognição formam um contínuo fenomenológico (e fisiológico) no qual ambas se influenciam por processos de baixo para cima (bottom-up – interferência emocional) e de cima para baixo (top-down – reformulação de emoções) (Oschner & Gross, 2005).
A via de processamento emocional de Oschner envolve cinco constructos (do menor ao maior nível de complexidade):
- Aquisição de valores e respostas socioafetivas.
- Reconhecimento e resposta a estímulos socioemocionais.
- Inferências de baixo nível de processamento.
- Inferências de alto nível de processamento.
- Regulação emocional sensível ao contexto.
A teoria da mente é uma habilidade metacognitiva em que um sistema cognitivo compreende o conteúdo de outro.
A teoria da mente (Baron Cohen, Leslie & Frith, 1985) está incluída nos processos de inferência de baixo e de alto nível de processamento. O conceito de teoria da mente se refere à habilidade de compreender e prever o comportamento das pessoas; seu conhecimento, intencionalidade e crenças. É uma habilidade metacognitiva, pois implica conhecer um sistema cognitivo diferente do nosso (Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao, & Pelegrín-Valero, 2007).
A empatia seria a habilidade de aplicar a teoria da mente em seus diferentes níveis. Ela tem sido definida como a capacidade de se colocar no ponto de vista do outro, embora esse posicionamento possa ser puramente cognitivo ou envolver uma implicação emocional. A empatia surge a partir das representações corporais. A ínsula abriga essas representações e já se demonstrou que estados primitivos de empatia aparecem a partir da percepção de estados corporais, pois há uma ativação diferencial nessa estrutura. A ínsula é também um núcleo de processamento fundamental no sistema de neurônios-espelho.
Modelo funcional da cognição social
A cognição social é um processo complexo cujos componentes recrutam diferentes nós de processamento. Fazendo um paralelo entre a Teoria da Via de Processamento Emocional e os principais modelos neuroanatômicos que a sustentam:
- Aquisição de valores socioafetivos e respostas: Amígdala, estriado e hipocampo.
- Reconhecimento e resposta a estímulos socioafetivos: Sulco temporal superior, córtex parietal inferior, amígdala e ínsula.
- Inferências mentais de baixo nível: Sistema de neurônios-espelho.
- Inferências de alto nível: Sistema de neurônios-espelho, sulco temporal superior, córtex pré-frontal medial, amígdala e estriado.
- Regulação emocional sensível ao contexto: Córtex pré-frontal dorsolateral, córtex orbitofrontal e ventromedial, amígdala e estriado.
O sistema de neurônios-espelho
Existem duas redes principais que compõem o sistema de neurônios-espelho (Cattaneo e Rizzolatti, 2009): uma rede que inclui áreas do lobo parietal e o córtex pré-motor, além de parte do giro frontal inferior; e outra rede que envolve a ínsula, o sulco temporal superior e o córtex frontomedial anterior. A amígdala atua como núcleo de processamento nesse segundo sistema. Além disso, o córtex do cíngulo anterior rostral é responsável por processar conflitos emocionais.
O primeiro sistema de neurônios-espelho está envolvido no aprendizado por observação e imitação (inclusive na imitação imaginada – por meio de simulações mentais, com participação do córtex pré-motor).
O segundo sistema é um sistema de processamento emocional, envolvido na adoção de atitudes empáticas, mas que não trabalha necessariamente separado do primeiro sistema. O papel do sistema de neurônios-espelho em atitudes empáticas, como a adoção de expressões faciais e posturas durante a interação (efeito camaleão), é essencial para o processamento empático.
Os cálculos dos neurônios desse sistema se baseiam nas consequências das ações e em seus objetivos. Esse conhecimento serve de base para a cognição social.
Para saber mais sobre o sistema de neurônios-espelho, a NeuronUP oferece uma publicação detalhada em nosso blog:
Sistema de Neurônios-espelho
Reabilitação da cognição social
Quando a cognição social falha, algumas das seguintes coisas podem ocorrer:
- Não ser capaz de estabelecer ou inferir intenções, pensamentos, desejos etc. nos outros (mentalização).
- Não ser capaz de reconhecer uma emoção, um tom de voz ou uma situação emocional (percepção).
- Não ser capaz de lidar com uma situação porque não sabemos ou não conseguimos recuperar informações relevantes do ambiente (memória de trabalho, resolução de problemas).
- Criar teorias falsas ou fazer inferências incorretas sobre pessoas ou situações (avaliação do contexto).
- Perceber as realidades sociais de forma fragmentada, em vez de contemplar todas as informações que a compõem (ou, pelo menos, as mais relevantes).
- Respostas emocionais negativas a situações de interação social.
A cognição social é uma função que compreende vários níveis de processamento. Portanto, a intervenção deve ser realizada com base na análise de todo o processo. Entre outros, nosso objetivo ao criar materiais é treinar e incentivar:
- A identificação de estados emocionais internos e nos outros, com atividades que variam conforme seu grau de concretude e complexidade.
- Treinamento na inferência de estados internos e intenções por meio de informações contextuais e informações internas, com grande carga visual.
- Treinamento em habilidades sociais, com foco em dois aspectos importantes: estratégias de conduta em situações sociais e autorregulação e gerenciamento de estados emocionais internos em diferentes contextos.
Dentre as diferentes opções de intervenção, gostaríamos de destacar as histórias sociais.
Histórias sociais
As histórias sociais são roteiros para o treinamento de pessoas com déficit na cognição social e na teoria da mente. Seu objetivo é a aquisição de habilidades de interação e estratégias comportamentais. As histórias sociais buscam ser “traduções sociais”. O treinamento pode ser focado em condutas de interação, aspectos de autorregulação, inferências de intencionalidade e na leitura e gestão das emoções, entre outros. É preciso diferenciar as histórias sociais de outros dois tipos de treinamento que também realizamos:
- Treinamento em rotinas como autocuidado, vestuário etc. que não requerem interação social (embora os reforços usados para promovê-las sejam sociais).
- Treinamento em aspectos básicos do processamento emocional.
Há diferentes formatos de histórias sociais. Elas podem ser desenvolvidas por meio de pictogramas (desenhos que representam o contexto de treinamento), palavras ou um formato misto. Entre os sujeitos com quem trabalhamos as histórias sociais, parece que as pessoas com Síndrome de Asperger são as que mais se beneficiam do tratamento. É importante que as situações atraiam a atenção dos pacientes sem distraí-los.
Os contextos usados serão diversos e graduados. A graduação é feita a partir de diferentes parâmetros, tais como a ambiguidade da situação, o número de interações que precisam ser realizadas durante a tarefa, a quantidade de conceitos utilizados na história e sua complexidade (concretos vs. abstratos), e a complexidade das respostas a serem emitidas.
As situações são tão variadas quanto a própria vida, mas estabelecemos diferentes categorias (não excludentes):
- Autorregulação.
- Interação com pessoas próximas (familiares, amigos, professores, tutores etc.).
- Regras para lugares específicos de atividade social (hospitais, escolas, teatros, cinemas, parques, ônibus etc.).
- Proibições explícitas.
- Divisão de responsabilidades nas tarefas de casa.
- Cuidados pessoais (desde que exijam interação, como perguntar onde fica o banheiro, por exemplo).
- Exceções a uma regra.
- Impaciência.
- Situações violentas e constrangedoras.
- Situações excepcionais.
Por fim, a linguagem utilizada é muito importante nessas atividades, pois muitas das pessoas com esse tipo de déficit apresentam alterações na comunicação.
Atividades da vida diária
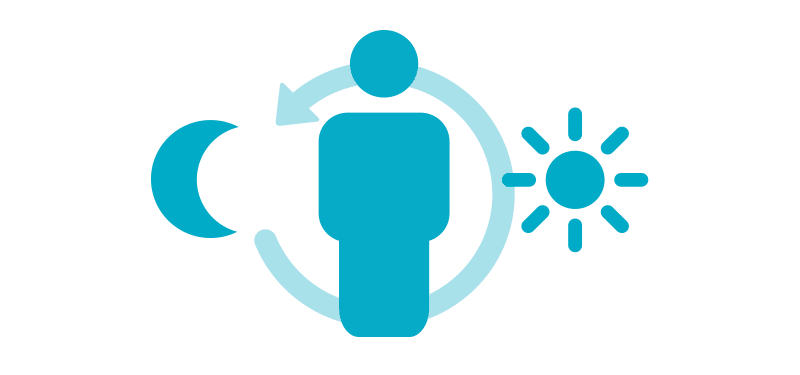
A funcionalidade está relacionada às AVD. A independência tem impacto em todos os aspectos psicossociais das pessoas.
Os déficits neuropsicológicos têm um impacto variável na funcionalidade das pessoas. A funcionalidade está relacionada à execução das atividades da vida diária. A independência tem impacto na qualidade de vida e, portanto, na construção da personalidade e no contexto do indivíduo. A principal meta em qualquer intervenção neuropsicológica ou de terapia ocupacional é ajudar as pessoas a alcançar o maior nível de funcionalidade possível. Um déficit significativo em uma área específica do cérebro pode ter pouco ou nenhum impacto na independência funcional da pessoa.
As atividades da vida diária são tarefas realizadas pelas pessoas no dia a dia. Quando ocorre uma lesão cerebral (adquirida ou não), a prioridade e a natureza dessas atividades podem exigir uma reformulação. Em muitos casos, essas atividades poderão ser retomadas. Em outros casos, serão substituídas por novas atividades, ou serão aplicadas técnicas de substituição e compensação, dependendo do perfil cognitivo dos pacientes.
A seguir, apresentamos os diferentes tipos de atividades da vida diária a partir da classificação da Associação Americana de Terapia Ocupacional.
Atividades básicas de vida diária (ABVD)
São atividades orientadas para o cuidado do próprio corpo (adaptado de Rogers e Holm, 1994, págs. 181-202).
- Banho e ducha: Obter e utilizar suprimentos; ensaboar, enxaguar e secar partes do corpo; manter a posição no banho e transferir-se para dentro e para fora da banheira.
- Cuidado do intestino e bexiga: Inclui o controle intencional completo dos movimentos intestinais e urinários e, se necessário, o uso de equipamentos ou agentes de controle da bexiga.
- Vestir-se: Selecionar roupas e acessórios adequados ao horário, ao tempo e à ocasião; obter vestuário do local de armazenamento; vestir-se e despir-se na sequência correta; amarrar e ajustar a roupa e o calçado; aplicar e remover órteses, próteses e acessórios pessoais.
- Comer: “A habilidade de manter e manipular comida ou líquido na boca e engolir; comer e engolir geralmente são usados de forma intercambiável” (AOTA, 2008).
- Alimentar-se: “É o processo de preparar, organizar e levar o alimento [ou líquido] do prato ou copo à boca; às vezes também chamado de autoalimentação” (AOTA, 2007).
- Mobilidade funcional: mover-se de uma posição ou lugar a outro (durante a execução de atividades cotidianas), tais como deslocar-se na cama, cadeira de rodas e fazer transferências (por exemplo, cadeira de rodas, cama, carro, banheira, vaso sanitário, cadeira, chão). Inclui deambulação funcional e transporte de objetos.
- Cuidado dos dispositivos de atenção pessoal: Usar, limpar e manter itens de cuidado pessoal, como aparelhos auditivos, lentes de contato, óculos, órteses, próteses, equipamentos adaptados e dispositivos anticoncepcionais e sexuais.
- Higiene e cuidado pessoal: Obter e usar suprimentos; remover pelos do corpo (por exemplo, usar lâminas, pinças, loções); aplicar e remover cosméticos; lavar, secar, pentear, modelar, escovar e aparar o cabelo; cuidar das unhas (mãos e pés); cuidar da pele, ouvidos, olhos e nariz; aplicar desodorante; limpar a boca, escovar os dentes e usar fio dental ou remover, limpar e colocar órteses e próteses dentárias.
- Atividade sexual: Participar de atividades que visam a satisfação sexual.
- Uso do vaso sanitário e higiene: Obter e usar suprimentos; manuseio das roupas; manter a posição no vaso, transferir-se para e a partir do vaso sanitário; limpar o corpo; cuidar das necessidades menstruais e de continência (incluindo manuseio de cateteres, bolsas de colostomia e supositórios).
Atividades instrumentais de vida diária (AIVD)
Atividades de suporte à vida cotidiana em casa e na comunidade, que geralmente exigem interações mais complexas do que as utilizadas no autocuidado das AVD.
- Cuidar de outros (incluindo selecionar e supervisionar cuidadores): Organizar, supervisionar ou prestar cuidados a outras pessoas.
- Cuidado de animais de estimação: Organizar, supervisionar ou fornecer cuidados a animais de estimação e de serviço.
- Auxílio na criação de crianças: Fornecer cuidados e supervisão para apoiar as necessidades de desenvolvimento de uma criança.
- Gerenciamento da comunicação: Enviar, receber e interpretar informações usando diversos sistemas e equipamentos, incluindo ferramentas de escrita, telefones, máquinas de escrever, gravadores de áudio e vídeo, computadores, pranchas de comunicação, campainhas de chamado, sistemas de emergência, dispositivos Braille, equipamentos de telecomunicação para surdos, sistemas de comunicação alternativa e assistentes digitais pessoais.
- Mobilidade na comunidade: Deslocar-se na comunidade e utilizar transporte público ou privado, como dirigir, caminhar, andar de bicicleta ou usar ônibus, táxi ou outros sistemas de transporte.
- Gerenciamento financeiro: Administrar recursos financeiros, incluindo métodos alternativos de transação, planejar e usar finanças com objetivos de curto e longo prazo.
- Gerenciamento e manutenção da saúde: Desenvolver, administrar e manter uma rotina de saúde e promoção do bem-estar, como a saúde física, nutrição, diminuição de comportamentos de risco à saúde e rotina de uso de medicamentos.
- Organização e manutenção do lar: Obter e manter pertences pessoais e da casa, e manter o ambiente do lar (por exemplo, casa, quintal, jardim, eletrodomésticos, veículos), incluindo manter e reparar bens pessoais (roupas e itens domésticos) e saber como pedir ajuda ou a quem recorrer.
- Preparação de refeições e limpeza: Planejar, preparar e servir refeições equilibradas e nutritivas; limpar os alimentos e utensílios após as refeições.
- Manutenção da segurança e resposta à emergência: Conhecer e executar procedimentos de prevenção para manter um ambiente seguro, bem como reconhecer situações de perigo inesperadas e súbitas; e iniciar ação de urgência para reduzir ameaças à saúde e à segurança.
- Compras: Elaborar lista de compras (alimentos e outros), selecionar, adquirir e transportar itens; escolher o método de pagamento e concluir transações monetárias.
Educação
Inclui as atividades necessárias para aprendizado e participação no ambiente.
- Participar da educação formal: Inclui as categorias de participação acadêmica (por exemplo, matemática, leitura, busca de um diploma ou graduação), não acadêmica (por exemplo, no recreio, refeitório, corredores), extracurricular (por exemplo, esportes, banda, torcida, festas), e vocacional (pré-vocacional e vocacional/profissional).
- Explorar necessidades educacionais informais ou interesses pessoais (além da educação formal): identificar temas e métodos para adquirir informações ou habilidades sobre os temas identificados.
- Participar da educação pessoal informal: Participar de aulas, programas e atividades que forneçam instrução/treinamento em áreas de interesse identificadas.
Trabalho
Inclui as atividades necessárias para participação em emprego remunerado ou em atividades de voluntariado (Mosey, 1996, p. 341).
- Interesses e atividades de busca de emprego: Identificar e selecionar oportunidades de emprego com base em seus recursos, limitações, preferências e aversões relacionadas ao trabalho (adaptado de Mosey, 1996, p. 342).
- Busca e aquisição de emprego: Identificar e se candidatar a vagas; preencher, enviar e revisar currículos; preparar-se para entrevistas; participar de entrevistas e do acompanhamento posterior; discutir os benefícios do emprego; e concluir negociações.
- Desempenho no trabalho/emprego: Desempenho no trabalho, incluindo as habilidades e padrões de trabalho; gestão do tempo; relacionamento com colegas, gestores e clientes; criação, produção e distribuição de produtos e serviços; início, manutenção e finalização de tarefas; e cumprimento de normas e procedimentos do emprego.
- Preparação e ajuste para aposentadoria: Determinar habilidades, desenvolver interesses e aptidões, bem como selecionar atividades vocacionais apropriadas.
- Explorar o voluntariado: Determinar causas, organizações ou oportunidades comunitárias para trabalho não remunerado, de acordo com habilidades, interesses pessoais, localização e tempo disponível.
- Participar como voluntário: Realizar trabalho não remunerado em benefício das causas, organizações ou instalações selecionadas.
Brincar
“Qualquer atividade organizada ou espontânea que proporcione prazer, entretenimento ou diversão” (Parham e Fazio, 1997, p. 252).
- Explorar a brincadeira: Identificar atividades de brincadeira apropriadas, que podem incluir brincadeira exploratória, prática, brincadeira imaginativa ou simulada, brincadeira com regras, brincadeira construtiva e brincadeira simbólica.
- Participar da brincadeira: Participar de brincadeiras; manter um equilíbrio entre a brincadeira e outras áreas ocupacionais; e obter, utilizar e manter adequadamente brinquedos, equipamentos e suprimentos.
Lazer ou tempo livre
“Uma atividade não obrigatória, intrinsecamente motivada, da qual se participa em um tempo livre ou discrecional, ou seja, um tempo não comprometido com ocupações obrigatórias, como trabalho, autocuidado ou sono” (Parham e Fazio, 1997, p. 250).
- Explorar o lazer: Identificar interesses, habilidades, oportunidades e atividades de lazer apropriadas.
- Participar do lazer: Planejar e participar de atividades de lazer adequadas; manter um equilíbrio de atividades de lazer com outras áreas ocupacionais; e obter, utilizar e manter equipamentos e suprimentos, conforme apropriado.
Participação social
“Padrões de comportamento organizados, característicos e esperados de um indivíduo ou de uma posição específica dentro de um sistema social” (Mosey, 1996, p. 340).
- Participação na comunidade: Participar de atividades que resultem em interação bem-sucedida em nível comunitário (ou seja, bairro, vizinhança, organizações, trabalho, escola).
- Participação na família: Participar em “[atividades que resultam em] interação bem-sucedida nos papéis familiares requisitados e/ou desejados” (Mosey, 1996, p. 340).
- Participação com colegas, amigos: Participar de atividades em diferentes níveis de intimidade, incluindo participar em atividades sexuais desejadas.
A NeuronUP abrange a reabilitação das AVDs de forma operacional, mas não menos ecológica.
O objetivo é aumentar a autonomia das pessoas com dano cerebral ou mantê-la em um nível ótimo. A NeuronUP integra características da terapia ocupacional e da neuropsicologia, realizando uma análise abrangente das atividades que compõem essas áreas, sem deixar de lado uma análise detalhada dos processos neuropsicológicos envolvidos nelas. O propósito é estabelecer uma classificação adequada dos níveis de complexidade das tarefas. A NeuronUP aborda a reabilitação das AVDs de forma operacional, mas não menos ecológica. Integramos objetos cotidianos em simuladores que as pessoas usam para treinar seu uso com objetos e as sequências necessárias para utilizá-los. Os simuladores treinam o uso de objetos do cotidiano em um ambiente digital, permitindo adquirir estratégias de resolução para um contexto real. Nossa prioridade é a análise funcional das sequências que compõem as atividades da vida diária.
Habilidades sociais
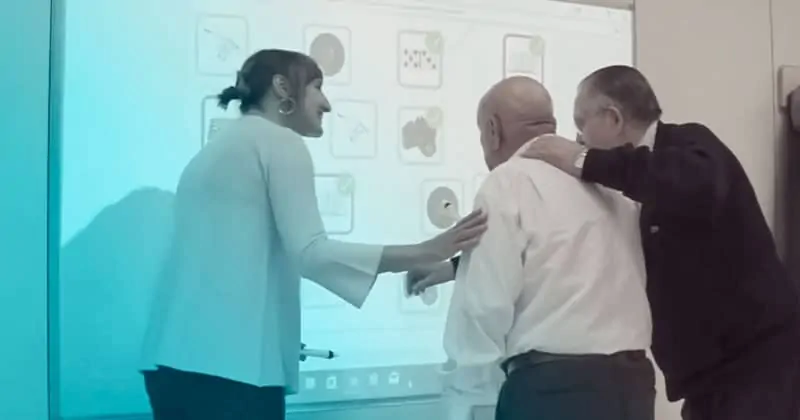
De acordo com Beauchamp & Anderson (2010), as habilidades sociais devem ser integradas em um quadro abrangente que incorpore as questões neurobiológicas e as habilidades sociocognitivas subjacentes à função social, bem como os fatores internos e externos que modulam essas habilidades. Podemos considerar as habilidades sociais como a implementação da cognição social em um contexto social. Nesse caso, tratar-se-ia de condutas e estratégias emitidas para iniciar ou manter comportamentos efetivos.
Parsons & Mitchell (2002) consideram dois modos principais de promover as habilidades sociais:
- Treinamento de conjuntos comportamentais estruturados em uma interação individual. São muito eficazes para ensinar novas condutas ou habilidades, mas às vezes há dificuldades em generalizar o que foi aprendido para novas tarefas.
- Intervenção nos ambientes naturais das pessoas, como a casa ou o trabalho.
O objetivo da seção “Habilidades sociais” na NeuronUP é desenvolver um sistema que possa ser integrado em diferentes contextos. Até agora, focamo-nos em aspectos de cognição social (um pré-requisito para treinar alguns aspectos das habilidades sociais). Fornecemos um feedback básico imediato, mas nossa ideia futura é poder personalizá-lo, mostrando consequências.
As habilidades sociais exigem lidar com a incerteza e exigem flexibilidade no treino de situações. Uma atividade ideal em habilidades sociais modificaria o feedback com base nas respostas dos pacientes.
As habilidades sociais estão diretamente relacionadas à qualidade de vida, e o tratamento deve ser abrangente. Por isso, devemos fornecer uma ampla gama de contextos que exijam processos neuropsicológicos variados e organizados por níveis. Esses processos, aplicados a um contexto social, exigirão mecanismos neurais interligados em todo o cérebro. Os conteúdos específicos a serem abordados nesta área são aqueles que não foram incluídos em outros processos neuropsicológicos da plataforma:
- Aspectos proxêmicos da interação social.
- Aspectos paralinguísticos da comunicação.
- Cognição social complexa.
- Aspectos conversacionais, como temas adequados de comunicação.
- Inibição comportamental aplicada a eventos sociais.
- Ferramentas e atividades que envolvam contextos variáveis.
- Treinamento metacognitivo aplicado a situações sociais.
Referências

Adolphs, R. (2001). The neurobiology of social cognition. Current opinion in neurobiology, 11(2), 231-239.
Akinwuntan, A. E., Wachtel, J., & Rosen, P. N. (2012). Driving Simulation for Evaluation and Rehabilitation of Driving After strokes. Journal of strokes and Cerebrovascular Diseases, 21(6), 478-486. doi:10.1016/j.jstrokescerebrovasdis.2010.12.001
Alexander, G. E., DeLong, M. R. & Strick, P. L. (1986) Parallel Organization of Functionally Segregated Circuits Linking Basal Ganglia and Cortex. Annual Review of Neuroscience, Vol. 9: 357-381
Allen, L., Mehta, S., McClure, J., & Teasell, R. (2012). Therapeutic Interventions for Aphasia Initiated More than Six Months Post strokes: A Review of the Evidence. Topics in strokes Rehabilitation, 19(6), 523-535. doi:10.1310/tsr1906-523
Alm, N., Astell, A., Ellis, M., Dye, R., Gowans, G., & Campbell, J. (2004). A cognitive prosthesis and communication support for people with dementia. Neuropsychological Rehabilitation, 14(1-2), 117-134. doi:10.1080/09602010343000147
Alvarez, V. A., & Sabatini, B. L. (2007). Anatomical and physiological plasticity of dendritic spines. Annual review of neuroscience, 30, 79-97. doi:10.1146/annurev.neuro.30.051606.094222
Arroyo-Anlló, E. M., Díaz-Marta, J. P., & Sánchez, J. C. (2012). Técnicas de rehabilitación neuropsicológica en demencias: hacia la ciber-rehabilitación neuropsicológica. Pensamiento Psicológico, 10(1), 107-127.
Assistive technology: Matching device and consumer for successful rehabilitation. (2002) (Vol. xiii). Washington, DC, US: American Psychological Association.
Ayres, K. M., Langone, J., Boon, R. T., & Norman, A. (2006). Computer-Based Instruction for Purchasing Skills. Education and Training in Developmental Disabilities, 41(3), 253-263.
Baddeley, A. (2007). Working memory, thought, and action (Vol. xviii). New York, NY, US: Oxford University Press.
Baddeley, A. D. (1999). Essentials of human memory (Vol. xi). Hove, England: Psychology Press/Taylor & Francis (UK).
Badre, D. (2008) Cognitive control, hierarchy, and the rostro–caudal organization of the frontal lobes. Trends in Cognitive Sciences, Vol. 12, Issue 5: 193-200
Badre, D. & D´Esposito, M. (2009) Is the rostro-caudal axis of the frontal lobe hierarchical? Nat Rev Neuroscience, Vol. 10, Issue 9: 659-669
Banich, M.T. (2004). Cognitive Neuroscience and Neuropsychology (second edition). Boston: Houghton-Mifflin.
Barker-Collo, S. L., Feigin, V. L., Lawes, C. M. M., Parag, V., Senior, H., & Rodgers, A. (2009). Reducing attention Deficits After strokes Using attention Process Training A Randomized Controlled Trial. strokes, 40(10), 3293-3298. doi:10.1161/strokesAHA.109.558239
Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a «theory of mind»? Cognition, 21(1), 37-46. Basak, C., Boot, W. R., Voss, M. W., & Kramer, A. F. (2008). Can training in a realtime strategy video game attenuate cognitive decline in older adults? Psychology and aging, 23(4), 765-777. doi:10.1037/a0013494
Beauchamp, M. H., & Anderson, V. (2010). SOCIAL: An Integrative Framework for the Development of Social Skills. Psychological Bulletin, 136(1), 39-64.
Beaumont, R., & Sofronoff, K. (2008). A multi-component social skills intervention for children with Asperger syndrome: The Junior Detective Training Program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(7), 743- 753. doi:10.1111/j.1469-7610.2008.01920.x
Benedet Alvarez, M. J. (2002). Fundamento teórico y metodológico de la neuropsicologia cognitiva. IMSERSO
Ben-Yishay, Y., Piasetsky, E., and Rattok, J. A (1987) Systematic Method for Ameliorating Disorders in Basic attention. In: Meier, M., Benton, A., and Diller, L., (Ed.), Neuropsychological Rehabilitation. (pp. 165-181). The Guilford Press, New York.
Bergman, M. M. (2002). The benefits of a cognitive orthotic in brain injury rehabilitation. The Journal of head trauma rehabilitation, 17(5), 431-445.
Bergquist, T., Gehl, C., Mandrekar, J., Lepore, S., Hanna, S., Osten, A., & Beaulieu, W. (2009). The effect of internet-based cognitive rehabilitation in persons with memory impairments after severe traumatic brain injury. Brain Injury, 23(10), 790-799. doi:10.1080/02699050903196688
Berlucchi, G. (2011). Brain plasticity and cognitive neurorehabilitation. Neuropsychological rehabilitation, 21(5), 560-578. doi:10.1 080/09602011.2011.573255 Bernabeu M., Roig T. (1999). La rehabilitación del traumatismo craneoencefálico: un enfoque rehabilitador. Barcelona. Fundació Institut Guttmann.
Bernard-Opitz, V., Sriram, N., & NakhodaSapuan, S. (2001). Enhancing social problem solving in children with autism and normal children through computer-assisted instruction. Journal of autism and developmental disorders, 31(4), 377-384.
Bonder, B., Haas, V. D. B., & Wagner, M. B. (2008). Functional Performance in Older Adults (3rd Revised edition.). F.A. Davis Company
Boot, W. R., Kramer, A. F., Simons, D. J., Fabiani, M., & Gratton, G. (2008). The effects of video game playing on attention, memory, and executive control. Acta Psychologica, 129(3), 387-398. doi:10.1016/j.actpsy.2008.09.005
Borghese, N. A., Bottini, G., & Sedda, A. (2013). Videogame Based Neglect Rehabilitation: A Role for Spatial Remapping and Multisensory Integration? Frontiers in Human Neuroscience, 7. doi:10.3389/fnhum.2013.00116
Boyke, J., Driemeyer, J., Gaser, C., Büchel, C., & May, A. (2008). Training-Induced Brain Structure Changes in the Elderly. The Journal of Neuroscience, 28(28), 7031-7035. doi:10.1523/JNEUROSCI.0742-08.2008
Bruna, O., Roig, T., Puyuelo, M., Junqué, C. & Ruano, A. (Eds.) Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica. (2011). Barcelona: Masson.
Burgess, P. W., Alderman, N., Forbes, C., Costello, A., M-A.coates, L., Dawson, D. R., … Channon, S. (2006). The case for the development and use of measures of executive function in experimental and clinical neuropsychology.Journal of the International Neuropsychological Society, 12(02), 194- 209.
Buxbaum, L. J., & Coslett, H. (2001). Specialised structural descriptions for human body parts: Evidence from autotopagnosia. Cognitive Neuropsychology, 18(4), 289-306. doi:10.1080/02643290126172
Buxbaum, L. J., Haaland, K. Y., Hallett, M., Wheaton, L., Heilman, K. M., Rodriguez, A., & Rothi, L. J. G. (2008). Treatment of Limb Apraxia. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 87(2), 149-161. doi:10.1097/PHM.0b013e31815e6727
Caglio, M., Latini-Corazzini, L., D’Agata, F., Cauda, F., Sacco, K., Monteverdi, S., … Geminiani, G. (2012). Virtual navigation for memory rehabilitation in a traumatic brain injured patient. Neurocase, 18(2), 123-131. do i:10.1080/13554794.2011.568499
Caglio, Marcella, Latini-Corazzini, L., D’agata, F., Cauda, F., Sacco, K., Monteverdi, S., … Geminiani, G. (2009). Video game play changes spatial and verbal memory: rehabilitation of a single case with traumatic brain injury. Cognitive Processing, 10(2), 195-197. doi:10.1007/s10339-009-0295-6
Cameirão, M. S., Bermúdez I Badia, S., Duarte Oller, E., & Verschure, P. F. M. J. (2009). The rehabilitation gaming system: a review. Studies in health technology and informatics, 145, 65-83.
Cassavaugh, N. D., & Kramer, A. F. (2009). Transfer of computer-based training to simulated driving in older adults. Applied Ergonomics, 40(5), 943-952. doi:10.1016/j.apergo.2009.02.001
Cattaneo, L., & Rizzolatti, G. (2009). The mirror neuron system. Archives of neurology, 66(5), 557-560. doi:10.1001/archneurol.2009.41
Cernich, PhD, S. M. K., PhD, K. L. M., & PhD, P. B. R. (2010). Cognitive Rehabilitation in Traumatic Brain Injury. Current Treatment Options in Neurology, 12(5), 412-423. doi:10.1007/s11940-010-0085-6
Cha, Y.-J., & Kim, H. (2013). Effect of computer-based cognitive rehabilitation (CBCR) for people with strokes: A systematic review and meta-analysis. NeuroRehabilitation, 32(2), 359-368. doi:10.3233/NRE-130856
Cho, B.-H., Ku, J., Jang, D. P., Kim, S., Lee, Y. H., Kim, I. Y., … Kim, S. I. (2002). The Effect of Virtual Reality Cognitive Training for attention Enhancement. CyberPsychology & Behavior, 5(2), 129-137. doi:10.1089/109493102753770516
Christensen, A.-L., & Uzzell, B. P. (2000). International Handbook of Neuropsychological Rehabilitation. Springer.
Cicerone, K D, Dahlberg, C., Kalmar, K., Langenbahn, D. M., Malec, J. F., Bergquist, T. F., … Morse, P. A. (2000). Evidence-based cognitive rehabilitation: recommendations for clinical practice. Archives of physical medicine and rehabilitation, 81(12), 1596-1615. doi:10.1053/apmr.2000.19240
Cicerone, Keith D, Langenbahn, D. M., Braden, C., Malec, J. F., Kalmar, K., Fraas, M., … Ashman, T. (2011). Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 2003 through 2008. Archives of physical medicine and rehabilitation, 92(4), 519- 530. doi:10.1016/j.apmr.2010.11.015
Cihak, D. F., Kessler, K., & Alberto, P. A. (2008). Use of a Handheld Prompting System to Transition Independently through Vocational Tasks for Students with Moderate and Severe intellectual disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 43(1), 102-110.
Cipriani, G., Bianchetti, A., & Trabucchi, M. (2006). Outcomes of a computer-based cognitive rehabilitation program on Alzheimer’s disease patients compared with those on patients affected by mild cognitive impairment. Archives of Gerontology and Geriatrics, 43(3), 327-335. doi:10.1016/j.archger.2005.12.003
Cohene, T., Baecker, R., & Marziali, E. (2005). Designing Interactive Life Story Multimedia for a Family Affected by Alzheimer’s Disease: A Case Study. En Proceedings of ACM CHI (pp. 2–7).
Cole, E. (1999). Cognitive prosthetics: an overview to a method of treatment. NeuroRehabilitation, 12(1), 39-51.
Cole, E., Ziegmann, M., Wu, Y., Yonker, V., Gustafson, C., & Cirwithen, S. (2000). Use of “therapist-friendly” tools in cognitive assistive technology and telerehabilitation. In: Proceedings of the RESNA 2000 Annual Conference: Technology for the New Millennium, June 28-July 2, 2000, Omni Rosen Hotel, Orlando, Florida (p. 31). RESNA Press.
Conway, A. R. A., Kane, M. J., & Engle, R. W. (2003). Working memory capacity and its relation to general intelligence. Trends in cognitive sciences, 7(12), 547-552.
Cook, D. A. (2005). The research we still are not doing: an agenda for the study of computer-based learning. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 80(6), 541-548.
Cook, D. A. (2012). Revisiting cognitive and learning styles in computer-assisted instruction: not so useful after all. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 87(6), 778-784. doi:10.1097/ ACM.0b013e3182541286
Corbetta, M., Patel, G., & Shulman, G. L. (2008). The reorienting system of the human brain: from environment to theory of mind. Neuron, 58(3), 306-324. doi:10.1016/j.neuron.2008.04.017
Craik, F. I. M., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11(6), 671-684. doi:10.1016/ S0022-5371(72)80001-X
Crete-Nishihata, M., Baecker, R. M., Massimi, M., Ptak, D., Campigotto, R., Kaufman, L. D., … Black, S. E. (2012). Reconstructing the Past: Personal memory Technologies Are Not Just Personal and Not Just for memory. Human–Computer Interaction, 27(1-2), 92-123. doi:10.1080/07370024.2012.656062
Cubelli, R., Marchetti, C., Boscolo, G., & Della Sala, S. (2000). Cognition in Action: Testing a Model of Limb Apraxia. Brain and Cognition, 44(2), 144-165. doi:10.1006/ brcg.2000.1226
Cuevas, H. M., Fiore, S. M., & Oser, R. L. (2002). Scaffolding cognitive and metacognitive processes in low verbal ability learners: Use of diagrams in computer-based training environments. Instructional Science, 30(6), 433-464. doi:10.1023/A:1020516301541
Damasio, A. R. (1989). The Brain Binds Entities and Events by Multiregional Activation from Convergence Zones. Neural Computation, 1(1), 123-132. doi:10.1162/ neco.1989.1.1.123
Damasio, A.R. & Damasio, H. (1992), Cerebro y Lenguaje. Investigación y Ciencia, 194, 59-66.
Das Nair, R., Ferguson, H., Stark, D. L., & Lincoln, N. B. (2012). memory Rehabilitation for people with multiple sclerosis . Cochrane database of systematic reviews (Online), 3, CD008754. doi:10.1002/14651858. CD008754.pub2
Deng, W., Aimone, J. B., & Gage, F. H. (2010). New neurons and new memories: how does adult hippocampal neurogenesis affect learning and memory? Nature reviews. Neuroscience, 11(5), 339-350. doi:10.1038/nrn2822
Dennis, N. A., & Cabeza, R. (2011). Agerelated dedifferentiation of learning systems: an fMRI study of implicit and explicit learning. Neurobiology of aging, 32(12), 2318. e17-2318.e30. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2010.04.004
Deutsch, J. E., Merians, A. S., Adamovich, S., Poizner, H., & Burdea, G. C. (2004). Development and application of virtual reality technology to improve hand use and gait of individuals post-strokes. Restorative neurology and neuroscience, 22(3-5), 371-386.
Dobkin, B. H. (2005). Rehabilitation after strokes. New England Journal of Medicine, 352(16), 1677-1684. doi:10.1056/NEJMcp043511
Dobkin, B. H. (2007). Brain–computer interface technology as a tool to augment plasticity and outcomes for neurological rehabilitation. The Journal of Physiology, 579(3), 637–642. doi:10.1113/jphysiol.2006.123067
Dosenbach, N. U. F., Fair, D. A., Cohen, A. L., Schlaggar, B. L., & Petersen, S. E. (2008). A dual-networks architecture of top-down control. Trends in cognitive sciences, 12(3), 99- 105. doi:10.1016/j.tics.2008.01.001
Dye, M. W. G., Green, C. S., & Bavelier, D. (2009). The development of attention skills in action video game players. Neuropsychologia, 47(8–9), 1780-1789. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.02.002
Edelman, G. M., & Gally, J. A. (2001). Degeneracy and complexity in biological systems. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(24), 13763-13768. doi:10.1073/ pnas.231499798
Edmans, J. A., Webster, J., & Lincoln, N. B. (2000). A comparison of two approaches in the treatment of perceptual problems after strokes. Clinical Rehabilitation, 14(3), 230-243. doi:10.1191/026921500673333145
Ehlhardt, L. A., Sohlberg, M. M., Glang, A., & Albin, R. (2005). TEACH-M: A pilot study evaluating an instructional sequence for persons with impaired memory and executive functions. Brain injury: [BI], 19(8), 569-583
Ellis, A. W., & Young, A. W. (1996). Human Cognitive Neuropsychology: A Textbook with Readings. Psychology Press.
Eriksson, P. S., Perfilieva, E., Björk-Eriksson, T., Alborn, A. M., Nordborg, C., Peterson, D. A., & Gage, F. H. (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nature medicine, 4(11), 1313-1317. doi:10.1038/3305 Farah, M. (2004). Visual agnosia. MIT Press.
Fasotti, L., Kovacs, F., Eling, P. A. T. M., & Brouwer, W. H. (2000). Time Pressure Management as a Compensatory Strategy Training after Closed Head Injury. Neuropsychological Rehabilitation, 10(1), 47-65. doi:10.1080/096020100389291
Faucounau, V., Wu, Y. H., Boulay, M., De Rotrou, J., & Rigaud, A. S. (2010). Cognitive intervention programmes on patients affected by Mild Cognitive Impairment: a promising intervention tool for MCI? The journal of nutrition, health & aging, 14(1), 31-35.
Fink, R., Brecher, A., Sobel, P., & Schwartz, M. (2005). Computer-assisted treatment of word retrieval deficits in aphasia. Aphasiology, 19(10-11), 943-954. doi:10.1080/02687030544000155
Flavia, M., Stampatori, C., Zanotti, D., Parrinello, G., & Capra, R. (2010). Efficacy and specificity of intensive cognitive rehabilitation of attention and executive functions in multiple sclerosis . Journal of the Neurological Sciences, 288(1–2), 101-105. doi:10.1016/j. jns.2009.09.024
Flnkel, S. I., & Yesavage, J. A. (1989). Learning mnemonics: A preliminary evaluation of a computer-aided instruction package for the elderly. Experimental Aging Research, 15(4), 199-201. doi:10.1080/03610738908259776
Fox, M. D., Snyder, A. Z., Vincent, J. L., Corbetta, M., Essen, D. C. V., & Raichle, M. E. (2005). The human brain is intrinsically organized into dynamic, anticorrelated functional networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(27), 9673-9678. doi:10.1073/ pnas.0504136102
Fredericks J.A.M. (1969) The agnosias. In: Bruin, G. W. (Ed.) Handbook of Clinical Neurology. Vol. 3 Amsterdam: Nother-Holland Friedman, N P, & Miyake, A. (2000). Differential roles for visuospatial and verbal working memory in situation model construction. Journal of experimental psychology. General, 129(1), 61-83.
Friedman, Naomi P, Miyake, A., Corley, R. P., Young, S. E., Defries, J. C., & Hewitt, J. K. (2006). Not all executive functions are related to intelligence. Psychological science, 17(2), 172- 179. doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01681.x
Fuchs, E., & Gould, E. (2000). In vivo neurogenesis in the adult brain: regulation and functional implications. European Journal of Neuroscience, 12(7), 2211–2214. doi:10.1046/ j.1460-9568.2000.00130.x
Furniss, F., Lancioni, G., Rocha, N., Cunha, B., Seedhouse, P., Morato, P., & O’Reilly, M. F. (2001). VICAID: Development and evaluation of a palmtop-based job aid for workers with severe developmental disabilities. British Journal of Educational Technology, 32(3), 277– 287. doi:10.1111/1467-8535.00198
Fuster, J. M. (2004). Upper processing stages of the perception–action cycle. Trends in Cognitive Sciences, 8(4), 143-145. doi:10.1016/j. tics.2004.02.004
Gathercole, S. E., & Alloway, T. (s. f.). Practitioner review: Short-term and working memory impairments in neurodevelopmental disorders : diagnosis and remedial support. Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines, 47(1), 4-15.
Ge, S., Sailor, K. A., Ming, G., & Song, H. (2008). Synaptic integration and plasticity of new neurons in the adult hippocampus. The Journal of Physiology, 586(16), 3759-3765. doi:10.1113/jphysiol.2008.155655
Gentry, T. (2008). PDAs as Cognitive Aids for People With multiple sclerosis . The American Journal of Occupational Therapy, 62(1), 18-27. doi:10.5014/ajot.62.1.18
Gentry, T., Wallace, J., Kvarfordt, C., & Lynch, K. B. (2008). Personal digital assistants as cognitive aids for individuals with severe traumatic brain injury: a communitybased trial. Brain injury: [BI], 22(1), 19-24. doi:10.1080/02699050701810688
Gillespie, A., Best, C., & O’Neill, B. (2012). Cognitive function and assistive technology for cognition: a systematic review. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 18(1), 1-19. doi:10.1017/ S1355617711001548
Gillette, Y., & Depompei, R. (2008). Do PDAs enhance the organization and memory skills of students with cognitive disabilities? Psychology in the Schools, 45(7), 665–677. doi:10.1002/pits.20316
Ginarte-Arias, Y. (2002). [Cognitive rehabilitation. Theoretical and methodological aspects]. Revista de neurología, 35(9), 870-876.
Glisky, E. L., Schacter, D. L., & Tulving, E. (1986). Computer learning by memory-impaired patients: Acquisition and retention of complex knowledge. Neuropsychologia, 24(3), 313-328. doi:10.1016/0028-3932(86)90017-5
Goldsmith, T. R., & LeBlanc, L. A. (2004). Use of Technology in Interventions for Children with Autism. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 1(2), 166-178.
Gordon, W. A., Hibbard, M. R., Egelko, S., Diller, L., Shaver, M. S., Lieberman, A., & Ragnarsson, K. (1985). Perceptual remediation in patients with right brain damage: a comprehensive program. Archives of physical medicine and rehabilitation, 66(6), 353-359.
Gorman, P., Dayle, R., Hood, C.-A., & Rumrell, L. (2003). Effectiveness of the ISAAC cognitive prosthetic system for improving rehabilitation outcomes with neurofunctional impairment. NeuroRehabilitation, 18(1), 57-67.
Green, C. S., & Bavelier, D. (2003). Action video game modifies visual selective attention. Nature, 423(6939), 534-537. doi:10.1038/nature01647
Gross, C. G. (2000). Neurogenesis in the adult brain: death of a dogma. Nature Reviews Neuroscience, 1(1), 67-73. doi:10.1038/35036235
Grynszpan, O., Perbal, S., Pelissolo, A., Fossati, P., Jouvent, R., Dubal, S., & Perez-Diaz, F. (2010). Efficacy and specificity of computer-assisted cognitive remediation in schizophrenia: a meta-analytical study. Psychological Medicine, 41(01), 163-173. doi:10.1017/ S0033291710000607
Hall, T. E., Hughes, C. A., & Filbert, M. (2000). Computer Assisted Instruction in Reading for Students with Learning Disabilities: A Research Synthesis. Education and Treatment of Children, 23(2), 173-93.
Hasselbring, T. S., & Bausch, M. E. (2006). Assistive Technologies for Reading. Educational Leadership, 63(4), 72-75.
Hermanutz, M., & Gestrich, J. (1991). Computer-assisted attention training in schizophrenics. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 240(4-5), 282-287. doi:10.1007/BF02189541
Hofmann, M., Rösler, A., Schwarz, W., Müller-Spahn, F., Kräuchi, K., Hock, C., & Seifritz, E. (2003). Interactive computertraining as a therapeutic tool in Alzheimer’s disease. Comprehensive Psychiatry, 44(3), 213- 219. doi:10.1016/S0010-440X(03)00006-3
Humphreys, G. W., & Riddoch, M. J. (2006). Features, objects, action: The cognitive neuropsychology of visual object processing, 1984-2004. Cognitive neuropsychology, 23(1), 156-183. doi:10.1080/02643290542000030
Iacoboni, M. & Dapretto, M. (2006) The mirror Neuron System and the consequences of its dysfunction. Nat Rev Neuroscience, 7(12):942-951
Jak, A. J., Seelye, A. M., & Jurick, S. M. (2013). Crosswords to computers: a critical review of popular approaches to cognitive enhancement. Neuropsychology review, 23(1), 13-26. doi:10.1007/s11065-013-9226-5
Jiang, L., Guan, C., Zhang, H., Wang, C., & Jiang, B. (2011). Brain computer interface based 3D game for attention training and rehabilitation. En 2011 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) (pp. 124-127). Presentado en 2011 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). doi:10.1109/ ICIEA.2011.5975562
Jobe, J. B., Smith, D. M., Ball, K., Tennstedt, S. L., Marsiske, M., Willis, S. L., … Kleinman, K. (2001). Active: A cognitive intervention trial to promote independence in older adults. Controlled Clinical Trials, 22(4), 453- 479. doi:10.1016/S0197-2456(01)00139-8
Johansson, B., & Tornmalm, M. (2012). Working memory training for patients with acquired brain injury: effects in daily life. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(2), 176-183. doi:10.3109/11038128.201 1.603352
Junqué, C. & Barroso, J. (1999). Neuropsicología. Madrid: Síntesis.
Kapur, N., Glisky, E. L., & Wilson, B. A. (s. f.). Technological memory aids for people with memory deficits. Neuropsychological rehabilitation, 14(1-2), 41-60.
Kim, A.-H., Vaughn, S., Klingner, J. K., Woodruff, A. L., Reutebuch, C. K., & Kouzekanani, K. (2006). Improving the Reading Comprehension of Middle School Students With disabilities Through Computer-Assisted Collaborative Strategic Reading. Remedial and Special Education, 27(4), 235-249. doi:10. 1177/07419325060270040401
Kueider, A. M., Parisi, J. M., Gross, A. L., & Rebok, G. W. (2012). Computerized Cognitive Training with Older Adults: A Systematic Review. PLoS ONE, 7(7). doi:10.1371/journal.pone.0040588
Kvavilashvili, L., & Ellis, J. (2004). Ecological validity and twenty years of real-life/ laboratory controversy in memory research: A critical (and historical) review. History and Philosophy of Psychology , vol 6 , pp. 59-80.
Landauer, T. K., & Bjork, R. A. (1978). Optimum rehearsal patterns and name learning. In: M. M. Gruneberg, P. E. Morris, & R. N. Sykes (Eds.) Practical aspects of memory (pp. 625-632). London: Academic Press.
Lane, S. J., & Mistrett, S. G. (1996). Play and Assistive Technology Issues for Infants and Young Children with disabilities A Preliminary Examination. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 11(2), 96-104. doi:10.1177/108835769601100205
Lange, B., Flynn, S. M., & Rizzo, A. A. (2009). Game-based telerehabilitation. European journal of physical and rehabilitation medicine, 45(1), 143-151.
Lauterbach, S. A., Foreman, M. H., & Engsberg, J. R. (2013). Computer Games as Therapy for Persons with strokes. Games for Health Journal, 2(1), 24-28. doi:10.1089/ g4h.2012.0032
Lee, J., Fowler, R., Rodney, D., Cherney, L., & Small, S. L. (2010). IMITATE: An intensive computer-based treatment for aphasia based on action observation and imitation. Aphasiology, 24(4), 449-465. doi:10.1080/02687030802714157
Lee, Y., & Vail, C. O. (2005). ComputerBased Reading Instruction for Young Children with Disabilities. Journal of Special Education Technology, 20(1), 5-18.
Lezak, M. D. (2004). Neuropsychological assessment, 4 Ed. Oxford University Press.
Liepmann H. (1990) Das Krankheitsbild der Apraxia auf Grund eines Falles von einseitiger Apraxie. Mschr Psychiat Neurol 8: 15-44, 102-132, 188-197.
Lopez-Martinez, A., Santiago-Ramajo, S., Caracuel, A., Valls-Serrano, C., Hornos, M. J., & Rodriguez-Fortiz, M. J. (2011). Game of gifts purchase: Computer-based training of executive functions for the elderly (pp. 1-8). IEEE. doi:10.1109/SeGAH.2011.6165448
LoPresti, E. F., Bodine, C., & Lewis, C. (2008). Assistive technology for cognition. IEEE engineering in medicine and biology magazine: the quarterly magazine of the Engineering in Medicine & Biology Society, 27(2), 29-39. doi:10.1109/EMB.2007.907396
LoPresti, E., Mihailidis, A., & Kirsch, N. (2004). Assistive technology for cognitive rehabilitation: State of the art. Neuropsychological Rehabilitation, 14(1-2), 5-39. doi:10.1080/09602010343000101
Lubrini, G., Periañez , J. A., & Rios-Lago, M. (2009). Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. In: Muñoz-Marrón, E. (Ed.), Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica (pp. 13-34). Barcelona: Editoria UOC.
Lynch, B. (2002). Historical review of computer-assisted cognitive retraining. The Journal of head trauma rehabilitation, 17(5), 446- 457.
MacArthur, C. A., Ferretti, R. P., Okolo, C. M., & Cavalier, A. R. (2001). Technology applications for students with literacy problems: A critical review. The Elementary School Journal, 101(3), 273-301. doi:10.1086/499669
Maccini, P., Gagnon, J. C., & Hughes, C. A. (2002). Technology-Based Practices for Secondary Students with Learning Disabilities. Learning Disability Quarterly, 25(4), 247. doi:10.2307/1511356
Mangiron. (9999). Accesibilidad a los videojuegos: estado actual y perspectivas futuras. Trans: Revista de Traductología, 15, 53-67.
Marr, D., & Nishihara, H. K. (1978). Representation and recognition of the spatial organization of three-dimensional shapes. Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing papers of a Biological character. Royal Society (Great Britain), 200(1140), 269-294.
Marr, D., & Vaina, L. (1982). Representation and recognition of the movements of shapes. Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing papers of a Biological character. Royal Society (Great Britain), 214(1197), 501- 524.
Martinell Gispert-Saúch, M. (2012) Lenguaje, afasias y trastornos de la comunicación. In: Bruna, O., Roig, T., Puyuelo, M., Junqué, C. & Ruano, A. (Eds.) Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica (pp. 61- 82). Barcelona: Masson
Mateer, C. A., & Sohlberg, M. M. (2001). Cognitive Rehabilitation: An Integrative Neuropsychological Approach (2.a ed.). Guilford Press.
Mautone, J. A., DuPaul, G. J., & Jitendra, A. K. (2005). The Effects of Computer-Assisted Instruction on the Mathematics Performance and Classroom Behavior of Children With ADHD. Journal of attention Disorders, 9(1), 301-312. doi:10.1177/1087054705278832
McDonald, A., Haslam, C., Yates, P., Gurr, B., Leeder, G., & Sayers, A. (2011). Google Calendar: A new memory aid to compensate for prospective memory deficits following acquired brain injury. Neuropsychological Rehabilitation, 21(6), 784-807. doi:10.1080/09 602011.2011.598405
Mechling, L. C., & Ortega-Hurndon, F. (2007). Computer-Based Video Instruction to Teach Young Adults with Moderate Intellectual disabilities to Perform Multiple Step, Job Tasks in a Generalized Setting. Education and Training in Developmental Disabilities, 42(1), 24-37.
Medalia, A., Aluma, M., Tryon, W., & Merriam, A. E. (1998). Effectiveness of attention training in schizophrenia. schizophrenia bulletin, 24(1), 147-152.
Michel, J. A., & Mateer, C. A. (2006). attention rehabilitation following strokes and traumatic brain injury. A review. Europa medicophysica, 42(1), 59-67.
Mihailidis, A., Fernie, G. R., & Barbenel, J. C. (2001). The use of artificial intelligence in the design of an intelligent cognitive orthosis for people with dementia. Assistive technology: the official journal of RESNA, 13(1), 23-39. doi :10.1080/10400435.2001.10132031
Ming, G.-L., & Song, H. (2011). Adult neurogenesis in the mammalian brain: significant answers and significant questions. Neuron, 70(4), 687-702. doi:10.1016/j.neuron.2011.05.001
Miyake, A., Emerson, M. J., & Friedman, N. P. (2000). Assessment of executive functions in clinical settings: problems and recommendations. Seminars in speech and language, 21(2), 169-183.
Miyake, A., Friedman, N. P., Rettinger, D. A., Shah, P., & Hegarty, M. (2001). How are visuospatial working memory, executive functioning, and spatial abilities related? A latent-variable analysis. Journal of experimental psychology. General, 130(4), 621-640.
Molinari, M., Petrosini, L., Misciagna, S., & Leggio, M. (2004). Visuospatial abilities in cerebellar disorders. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 75(2), 235-240.
Morganti, F., Gaggioli, A., Castelnuovo, G., Bulla, D., Vettorello, M., & Riva, G. (2003). The use of technology-supported mental imagery in neurological rehabilitation: a research protocol. Cyberpsychology & behavior: the impact of the Internet, multimedia and virtual reality on behavior and society, 6(4), 421-427. doi:10.1089/109493103322278817
Moulton, S. T., & Kosslyn, S. M. (2009). Imagining predictions: mental imagery as mental emulation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1521), 1273-1280. doi:10.1098/rstb.2008.0314
Muñoz Cespedes, J. M. M., & Tirapu Ustárroz, J. (2008). Rehabilitación neuropsicológica. Sintesis.
Muñoz Céspedes, J. M., & Tirapu Ustárroz, J. (2004). [Rehabilitation programs for executive functions]. Revista de neurología, 38(7), 656-663.
Nair, R. das, & Lincoln, N. B. (2012). Evaluation of Rehabilitation of memory in Neurological disabilities (ReMiND): a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation, 26(10), 894-903. doi:10.1177/0269215511435424
Neubauer, K., von Auer, M., Murray, E., Petermann, F., Helbig-Lang, S., & Gerlach, A. L. (2013). Internet-delivered attention modification training as a treatment for social phobia: a randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 51(2), 87-97. doi:10.1016/j.brat.2012.10.006
Newell, A. F., & Gregor, P. (2000). “User Sensitive Inclusive Design” in search of a new paradigm. In: Proceedings on the 2000 conference on Universal Usability (CUU ’00), John Thomas (Ed.). ACM, New York, NY, USA, 39-44. Association for Computing Machinery.
Nouchi, R., Taki, Y., Takeuchi, H., Hashizume, H., Nozawa, T., Kambara, T., … Kawashima, R. (2013). Brain Training Game Boosts executive functions, Working memory and Processing Speed in the Young Adults: A Randomized Controlled Trial. PLoS ONE, 8(2), e55518. doi:10.1371/journal. pone.0055518
O’Neill, B., Moran, K., & Gillespie, A. (2010). Scaffolding rehabilitation behaviour using a voice-mediated assistive technology for cognition. Neuropsychological Rehabilitation, 20(4), 509-527. doi:10.1080/09602010903519652
Occupational Therapy Practice Framework: Domain & Process 2nd Edition. (2008). The American Journal of Occupational Therapy, 62(6), 625-683. doi:10.5014/ajot.62.6.625
Ochsner, K. N. (2008). The Social-Emotional Processing Stream: Five Core Constructs and Their Translational Potential for Schizophrenia and Beyond. Biological Psychiatry, 64(1), 48-61. doi:10.1016/j.biopsych.2008.04.024
Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in cognitive sciences, 9(5), 242-249. doi:10.1016/j. tics.2005.03.010
Oremus, M., Santaguida, P., Walker, K., Wishart, L. R., Siegel, K. L., & Raina, P. (2012). Studies of strokes rehabilitation therapies should report blinding and rationalize use of outcome measurement instruments. Journal of clinical epidemiology, 65(4), 368-374. doi:10.1016/j.jclinepi.2011.10.013
Ortega-Tudela, J. M., & Gómez-Ariza, C. J. (2006). Computer-assisted teaching and mathematical learning in Down Syndrome children. Journal of Computer Assisted Learning, 22(4), 298-307. doi:10.1111/j.1365- 2729.2006.00179.x
Parsons, S., & Mitchell, P. (2002). The potential of virtual reality in social skills training for people with autistic spectrum disorders. Journal of Intellectual Disability Research, 46(5), 430–443. doi:10.1046/j.1365- 2788.2002.00425.x
Peretz, C., Korczyn, A. D., Shatil, E., Aharonson, V., Birnboim, S., & Giladi, N. (2011). Computer-based, personalized cognitive training versus classical computer games: a randomized double-blind prospective trial of cognitive stimulation. Neuroepidemiology, 36(2), 91-99. doi:10.1159/000323950
Posner, M.I. (1995). Forward. In: Rugg, M. D., & Coles, M. G. H. (Eds.) Electrophysiology of Mind. Oxford: University Press.
Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. Annual review of neuroscience, 13, 25-42. doi:10.1146/ annurev.ne.13.030190.000325
Prigatano, G. P. (1999). Principles of Neuropsychological Rehabilitation. Oxford University Press Inc.
Rabiner, D. L., Murray, D. W., Skinner, A. T., & Malone, P. S. (2010). A Randomized Trial of Two Promising Computer-Based Interventions for Students with attention Difficulties. Journal of Abnormal Child Psychology, 38(1), 131-142. doi:10.1007/s10802-009-9353-x
Rebok, G. W., Carlson, M. C., & Langbaum, J. B. S. (2007). Training and Maintaining memory Abilities in Healthy Older Adults: Traditional and Novel Approaches. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 62(Special Issue 1), 53-61.
Riddoch, M., & Humphreys, G. (2001). Object Recognition. In: B. Rapp (Ed.) Handbook of Cognitive Neuropsychology. Hove: Psychology Press
Roig, T. & Sánchez-Carrión, R. (2005) Aplicaciones de las nuevas tecnologías en la rehabilitación neuropsicológica en los traumatismos craneoencefálicos (TCE) En: Montagut F., Flotats G., Lucas E. Rehabilitación domiciliaria. Principios, indicaciones y programas terapéuticos. Barcelona: Masson.
Sablier, J., Stip, E., Franck, N., Giroux, S., Pigot, H., & Nadeau-Marcotte, F. (2011). Mobus project-assistive technology for improving cognition and autonomy of patients with schizophrenia. International Clinical Psychopharmacology, 26, e65-e66. doi:10.1097/01.yic.0000405743.97198.55
Salas, C., Báez, M. T., Garreaud, A. M., & Daccarett, C. (2007). Experiences and challenges in cognitive rehabilitation: towards a model of contextualized intervention? Rev. chil. neuropsicol. (Impr.), 2(1), 21-30.
Sánchez-Carrión, R., Gómez Pulido, A., García-Molina, A., Rodríguez Rajo, P., & Roig Rovira, T. (2011) Tecnologías aplicadas a la rehabilitación neuropsicológica. In: Bruna, O., Roig, T., Puyuelo, M., Junqué, C. & Ruano, A. (Eds.) Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica (pp. 131-140). Barcelona: Masson
Sánchez Cubillo, I. (1 de Abril, 2011) Actualización en Cognición Social: a propósito de dos casos [diapositivas en PowerPoint].
Sansosti, F. J., & Powell-Smith, K. A. (2008). Using Computer-Presented Social Stories and Video Models to Increase the Social Communication Skills of Children With High-Functioning Autism Spectrum Disorders. Journal of Positive Behavior Interventions, 10(3), 162- 178. doi:10.1177/1098300708316259
Santaguida, P., Oremus, M., Walker, K., Wishart, L. R., Siegel, K. L., & Raina, P. (2012). Systematic reviews identify important methodological flaws in strokes rehabilitation therapy primary studies: review of reviews. Journal of clinical epidemiology, 65(4), 358-367. doi:10.1016/j.jclinepi.2011.10.012
Schachter, D. L., & Endel, T. (1994). memory systems 1994. MIT Press.
Scherer, M. J., Assistive technology: Matching device and consumer for successful rehabilitation. (2002) (Vol. XIII). Washington, DC, US: American Psychological Association
Schmidt, N. B., Richey, J. A., Buckner, J. D., & Timpano, K. R. (2009). attention training for generalized social anxiety disorder. Journal of abnormal psychology, 118(1), 5-14. doi:10.1037/a0013643
Schmitter-Edgecombe, M., Fahy, J. F., Whelan, J. P., & Long, C. J. (1995). memory remediation after severe closed head injury: notebook training versus supportive therapy. Journal of consulting and clinical psychology, 63(3), 484-489.
Seo, Y.-J., & Bryant, D. P. (2009). Analysis of studies of the effects of computer-assisted instruction on the mathematics performance of students with learning disabilities. Computers & Education, 53(3), 913-928. doi:10.1016/j. compedu.2009.05.002
Sepchat, A., Descarpentries, S., Monmarché, N., & Slimane, M. (s. f.). MP3 Players and Audio Games: An Alternative to Portable Video Games Console for Visually Impaired Players. En K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler, & A. Karshmer (Eds.), Computers Helping People with Special Needs (Vol. 5105, pp. 553- 560). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Shalev, L., Tsal, Y., & Mevorach, C. (2007). Computerized Progressive attentional Training (CPAT) Program: Effective Direct Intervention for Children with ADHD. Child Neuropsychology, 13(4), 382-388. doi:10.1080/09297040600770787
Shatil, E., Metzer, A., Horvitz, O., & Miller, A. (2010). Home-based personalized cognitive training in MS patients: a study of adherence and cognitive performance. NeuroRehabilitation, 26(2), 143-153. doi:10.3233/ NRE-2010-0546
Shaw, R., & Lewis, V. (2005). The impact of computer-mediated and traditional academic task presentation on the performance and behaviour of children with ADHD. Journal of Research in Special Educational Needs, 5(2), 47– 54. doi:10.1111/J.1471-3802.2005.00041.x
Silver, M., & Oakes, P. (2001). Evaluation of a New Computer Intervention to Teach People with Autism or Asperger Syndrome to Recognize and Predict Emotions in Others. Autism, 5(3), 299-316. doi:10.1177/1362361301005003007
Sitdhisanguan, K., Chotikakamthorn, N., Dechaboon, A., & Out, P. (2012). Using tangible user interfaces in computer-based training systems for low-functioning autistic children. Personal and Ubiquitous Computing, 16(2), 143-155. doi:10.1007/s00779-011- 0382-4
Sohlberg, M M, & Mateer, C. A. (1987). Effectiveness of an attention-training program. Journal of clinical and experimental neuropsychology, 9(2), 117-130. doi:10.1080/01688638708405352
Sohlberg, M., & Mateer, C. A. (1989). Introduction to Cognitive Rehabilitation. Guilford Publications.
Sohlberg, McKay Moore, Ehlhardt, L., & Kennedy, M. (2005). Instructional techniques in cognitive rehabilitation: a preliminary report. Seminars in speech and language, 26(4), 268-279. doi:10.1055/s-2005-922105
Solari, A., Motta, A., Mendozzi, L., Pucci, E., Forni, M., Mancardi, G., & Pozzilli, C. (2004). Computer-aided retraining of memory and attention in people with multiple sclerosis : a randomized, double-blind controlled trial. Journal of the Neurological Sciences, 222(1– 2), 99-104. doi:10.1016/j.jns.2004.04.027
Squire, L. R. (2004). memory systems of the brain: A brief history and current perspective. Neurobiology of Learning and memory, 82(3), 171-177. doi:10.1016/j.nlm.2004.06.005
Stahmer, A. C., Schreibman, L., & Cunningham, A. B. (2011). Toward a technology of treatment individualization for young children with autism spectrum disorders. Brain research, 1380, 229-239. doi:10.1016/j.brainres.2010.09.043
Standen, P. J., & Brown, D. J. (2005). Virtual reality in the rehabilitation of people with intellectual disabilities: review. Cyberpsychology & behavior: the impact of the Internet, multimedia and virtual reality on behavior and society, 8(3), 272-282; discussion 283-288. doi:10.1089/cpb.2005.8.272
Steiner, N. J., Sheldrick, R. C., Gotthelf, D., & Perrin, E. C. (2011). Computer-Based attention Training in the Schools for Children With attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Preliminary Trial. Clinical Pediatrics, 50(7), 615-622. doi:10.1177/0009922810397887
Stern, R.A. y Prohaska, M.L. (1996). Neurospychological evaluation of executive functioning. In: L.J. Dikstein, M.B. Riba y J.M. Oldham (eds.): Review of Psychiatry, Neuropsychiatry for clinicians. Washington: American Psychiatric Press.
Stromer, R., Kimball, J. W., Kinney, E. M., & Taylor, B. A. (2006). Activity Schedules, Computer Technology, and Teaching Children With Autism Spectrum Disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 21(1), 14-24. doi:10.1177/10883576060210 010301
Susie R Wood, N. M. (2003). Motivating, game-based strokes rehabilitation: a brief report. Topics in strokes rehabilitation, 10(2), 134- 40.
Suslow, T., Schonauer, K., & Arolt, V. (2001). attention training in the cognitive rehabilitation of schizophrenic patients:a review of efficacy studies. Acta Psychiatrica Scandinavica, 103(1), 15–23. doi:10.1111/j.1600- 0447.2001.00016.x
Tam, S.-F., & Man, W.-K. (2004). Evaluating computer-assisted memory retraining programmes for people with post-head injury amnesia. Brain injury: [BI], 18(5), 461-470. doi:10.1080/02699050310001646099
Tanaka, S. C., Doya, K., Okada, G., Ueda, K., Okamoto, Y., & Yamawaki, S. (2004). Prediction of immediate and future rewards differentially recruits cortico-basal ganglia loops. Nature Neuroscience, 7(8), 887-893. doi:10.1038/nn1279
Tang, Y.-Y., & Posner, M. I. (2009). attention training and attention state training. Trends in cognitive sciences, 13(5), 222-227. doi:10.1016/j.tics.2009.01.009
Teasell, R. W., Foley, N. C., Bhogal, S. K., & Speechley, M. R. (2003). An evidence-based review of strokes rehabilitation. Topics in strokes rehabilitation, 10(1), 29-58.
Thornton, K. E., & Carmody, D. P. (2008). Efficacy of traumatic brain injury rehabilitation: interventions of QEEG-guided biofeedback, computers, strategies, and medications. Applied psychophysiology and biofeedback, 33(2), 101-124. doi:10.1007/s10484-008-9056-z
Tirapu Ustárroz, J., García Molina , A. & Roig Rovira, T. (2007). Validez ecológica en la exploración de las funciones ejecutivas. Anales de Psicología, 23(2) 289-299.
Tirapu Ustárroz, J., & Luna Lario, P. (2008). Neuropsicología de las funciones ejecutivas, 221-256.
Tirapu-Ustárroz, J., Pérez-Sayes, G., Erekatxo-Bilbao, M., & Pelegrín-Valero, C. (2007). [What is theory of mind?]. Revista de neurologia, 44(8), 479-489.
Tulving, E. (1985). How many memory systems are there? American Psychologist, 40(4), 385-398. doi:10.1037/0003-066X.40.4.385
Tulving, E. (1999). memory, Consciousness, and the Brain. The Tallinn Conference. (pp. 66- 68). Psychology Press.
Tulving, E. (2002). Episodic memory: From Mind to Brain. Annual Review of Psychology, 53(1), 1-25. doi:10.1146/annurev.psych.53.100901.135114
Van den Broek, M. D., Downes, J., Johnson, Z., Dayus, B., & Hilton, N. (2000). Evaluation of an electronic memory aid in the neuropsychological rehabilitation of prospective memory deficits. Brain injury: [BI], 14(5), 455-462.
Van Heugten, C., Wolters Gregório, G., & Wade, D. (2012). Evidence-based cognitive rehabilitation after acquired brain injury: A systematic review of content of treatment. Neuropsychological Rehabilitation, 22(5), 653- 673. doi:10.1080/09602011.2012.680891
Verdejo García, A. V., & Bechara, A. (2010). Neuropsicología de las funciones ejecutivas. Psicothema, 22(2), 227-235.
Vogt, A., Kappos, L., Calabrese, P., Stöcklin, M., Gschwind, L., Opwis, K., & Penner, I.- K. (2009). Working memory training in patients with multiple sclerosis – comparison of two different training schedules. Restorative neurology and neuroscience, 27(3), 225-235. doi:10.3233/RNN-2009-0473
Wainer, A. L., & Ingersoll, B. R. (2011). The use of innovative computer technology for teaching social communication to individuals with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 96-107. doi:10.1016/j.rasd.2010.08.002
Warrington, E. K., & Taylor, A. M. (1978). Two categorical stages of object recognition. Perception, 7(6), 695-705.
Weinberg, J., Diller, L., Gordon, W. A., Gerstman, L. J., Lieberman, A., Lakin, P., … Ezrachi, O. (1979). Training sensory awareness and spatial organization in people with right brain damage. Archives of physical medicine and rehabilitation, 60(11), 491-496.
Werry, I., Dautenhahn, K., Ogden, B., & Harwin, W. (2001). Can Social Interaction Skills Be Taught by a Social Agent? The Role of a Robotic Mediator in Autism Therapy. En Proc. CT2001, The Fourth International Conference on Cognitive Technology: Instruments of Mind, LNAI 2117 (pp. 57–74). Springer-Verlag.
Wertz, R., & Katz, R. (2004). Outcomes of computer-provided treatment for aphasia. Aphasiology, 18(3), 229-244. doi:10.1080/02687030444000048
Westerberg, H., Jacobaeus, H., Hirvikoski, T., Clevberger, P., Östensson, M.-L., Bartfai, A., & Klingberg, T. (2007). Computerized working memory training after strokes– A pilot study. Brain Injury, 21(1), 21-29. doi:10.1080/02699050601148726
Wilson, B A, Emslie, H. C., Quirk, K., & Evans, J. J. (2001). Reducing everyday memory and planning problems by means of a paging system: a randomised control crossover study. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 70(4), 477-482.
Wilson, B. (1987). Single-Case Experimental Designs in Neuropsychological Rehabilitation. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 9(5), 527-544. doi:10.1080/01688638708410767
Wilson, B. (1989). Models of cognitive rehabilitation. En R. L. Wood & P. Eames (Eds.), Models of brain injury rehabilitation (pp. 117- 141). Baltimore, MD, US: Johns Hopkins University Press.
Wilson, Barbara A, Emslie, H., Quirk, K., Evans, J., & Watson, P. (2005). A randomized control trial to evaluate a paging system for people with traumatic brain injury. Brain injury: [BI], 19(11), 891-894.
Wilson, Barbara A. (2009). memory Rehabilitation: Integrating Theory and Practice. Guilford Press.
Yantz, C. L., Johnson-Greene, D., Higginson, C., & Emmerson, L. (2010). Functional cooking skills and neuropsychological functioning in patients with strokes: an ecological validity study. Neuropsychological rehabilitation, 20(5), 725-738. doi:10.1080/09602011003765690
Young, A.W. & Ellis, H.D. (2000) Overt and covert face recognition. In: Revonsu, A. & Rossetti, Y., (Eds.) Dissociation but Interaction between Conscious and Unconscious Processing. (pp. 195–219) Ed. John Benjamins.
Zangwill, O. L. (1947). Psychological Aspects of Rehabilitation in Cases of Brain Injury1. British Journal of Psychology. General Section, 37(2), 60–69. doi:10.1111/j.2044-8295.1947. tb01121.x
Zhao, C., Deng, W., & Gage, F. H. (2008). Mechanisms and functional implications of adult neurogenesis. Cell, 132(4), 645-660. doi:10.1016/j.cell.2008.01.033